Fonte: Jones Urubatan Frias Rabello Filho, Breno de Almeida Chaves e Tauã Lima Verdan Rangel
Postado em 13 de Maio de 2022 - 11:33 - Lida 287 vezes
A Fase Política da Intervenção da União Federal
O escopo do presente é analisar a fase política do processo da intervenção da União Federal.
INTRODUÇÃO O presente resumo expandido tem como principal objetivo, trazer para os futuros leitores, alguns comentários acerca da fase política da intervenção da União Federal. Inicialmente, de maneira sucinta, será abordado a concepção acerca da Federação. Logo em seguida, visa citar o entendimento de vários doutrinadores sobre o tema intervenção, onde se caracteriza como um ato político que visa suspender a autonomia dos Entes Federativos (exceto da União). A intervenção poderá ser feita pela ...
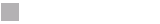

 Home
Home