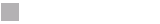Responsabilidade civil contemporânea
A responsabilidade civil contemporânea assume cunho protetivo e promocional. Sendo protetivo no sentido de garantir a todo ser humano um tratamento digno de suas necessidades e, promocional quanto a viabilizar as condições de vida para que uma pessoa adquira sua liberdade e crescimento. E, assim, é a responsabilidade civil do Estado pode ser contratual ou extracontratual. Na primeira, existe um vínculo contratual entre o Estado e o terceiro. Por isso, o Estado será responsabilizado quando a administração descumprir os termos desse contrato. A Lei 8.666/1993 regula esse tipo de responsabilidade. A teoria do risco administrativo representa o fundamento da responsabilidade objetiva do Estado. Para gerar responsabilidade do Estado, devem surgir três elementos: a conduta administrativa, o dano e o nexo causal. Pela teoria do risco administrativo, o Estado poderá eximir-se da reparação em alguns casos específicos. Portanto, nessa teoria há uma presunção de culpa da administração. Mas, é preciso que o Estado comprove que determinada situação não foi sua culpa
A
responsabilidade civil do Estado[1] é um instituto social de
reparação que evoluiu e se aperfeiçoou e apesar de já definida no texto
constitucional brasileiro vigente não é possível demonstrar a existência de
unicidade em sua aplicação pelo Judiciário. Especialmente, diante da
jurisprudência prevalente pelo Supremo Tribunal Federal.
Lembremos
que a reparação é mesmo a racional conduta da vida em social, e as ponderações
e valores sobre a responsabilidade civil evoluem e variam muito conforme a
cultura cada cultura.
E,
para galgar a reparação, as sociedades admitiram diversas formas de
ressarcimento, por vezes, em ouro, trabalho, retribuição em igual proporção,
perdão da dívida e até partes do corpo foram meio para a satisfação do direito
do credor, usados por muitos séculos.
A
responsabilidade civil é mesmo resultante da evolução jurídica e normativa
constante e, inicialmente fora disciplinada entre os civis com regras e
princípios tradicionais. E, foram as transformações sociais que propiciaram o
fortalecimento do Estado que então passou a assumir papel relevante na complexa
relação entre cidadãos.
E,
posteriormente, se observou a interação comum entre o Estado e o cidadão era
juridicamente desequilibrada o que poderia gerar prejuízos para a parte mais
vulnerável, o cidadão.
Na
tentativa de superar essa vulnerabilidade, o tema da responsabilidade civil
saiu, em parte expressiva, do âmbito do Direito Civil e, passou a ser
disciplinada pelo Direito Público.
Observa-se
que a jurisprudência constitucional pátria tem apresentado uniformidade em
relação à responsabilidade civil do Estado em conformidade com a previsão do
artigo 37, §6º da CF/188 e ainda no artigo 43 do Código Civil brasileiro de
2002.
A
jurisprudência constitucional baseia todas as decisões que serão tomadas nos
tribunais e juízos inferiores, principalmente com o advento do novo Código de
Processo Civil (Lei nº13.105/2015).
O
Supremo Tribunal Federal (STF), como guardião da Constituição, tem por pressuposto
o monopólio em relação a construção da jurisprudência constitucional e, ainda
tem o dever de transmitir segurança decisional. Por consequência, compete ao
Judiciário, criar o arcabouço de decisões que observe as normas e garantias
asseguradas pela Constituição Federal brasileira vigente.
A
existência de ficção jurídica para atribuir ao Estado a responsabilidade é
primordial na contemporaneidade. E, as primeiras reflexões de Hobbes sobre a
existência do Estado já trazem a ideia de manifestação de cada cidadão na
formação do ente maior.
Salientou
Hobbes, in litteris: “Porque pela arte é criado aquele grande Leviatã a
que se chama Estado, ou Cidade [...], que não é senão um homem artificial,
embora de maior estatura e força do que o homem natural, para cuja proteção e
defesa foi projetado.”.
Já
para os contratualistas clássicos como Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e
Montesquieu usaram-se do Direito natural[2] para justificar a
existência do Estado soberano.
E, os
doutrinadores refletiram sobre a necessidade e as possibilidades para que o
Estado se posicione acima dos interesses do particular, no entanto, limitado na
complexa estrutura sistêmica proposta por Montesquieu.
Cabe
ainda ressaltar que a divisão das funções do Estado é nitidamente mais antiga
do que a doutrina explicitada pelos doutrinadores contratualistas. Já na Grécia
Antiga, a obra de Aristóteles[3] trazia o esboço sobre a
atuação do Estado por meio de poderes repartidos.
Apesar
de buscarem os fundamentos básicos da existência do Estado, a noção de
personalidade jurídica, somente, foi percebida posteriormente.
Segundo
Dalari, a necessidade de fixar o Estado no plano jurídico nasce na Alemanha. A
personificação do Estado se mostra como o principal avanço coletivo em relação
a possibilidade de limitação jurídica das ações e questões envolvendo o Estado.
Assim, para o controle estatal, estabelece-se critérios mais práticos do que os
anteriores.
Ainda
segundo Hobbes, o Leviatã é submetido ao conjunto de regras, direitos e
obrigações e, recebe personalidade própria, distinta de seus membros. E, o
pensamento de incorporação do Estado pelo sujeito específico, normalmente,
monárquico, deixa espaço para definição e desenvolvimento no ordenamento
jurídico.
Quando
L'État c'est moi que foi o apótema do Rei Luís XIV da França, perde seu
significado para as democracias. Em resumo, existem duas correntes principais
no tocante a ideia de personalidade jurídica.
A
primeira corrente é correlacionada a existência fictícia. Savigny afirma, segundo
Dalari (1998), que o sujeito real é aquele que tem vontade e consciência individualizada,
independente de outro sujeito. A outra corrente está baseada no campo da
realidade.
Alguns
doutrinadores explicam a personalidade do Estado como organicismo biológico, o
ser biológico que emana vontades, dentre eles estão Gerber e Gierke. Inclui,
nessa vertente, a ideia de organismo moral com existência própria que depende
de seus órgãos para interagir independente da vontade dos próprios membros e
cidadãos.
Evidenciam-se
duas correntes doutrinárias, a realista e a ficcionista, coadunam-se na medida
em que distanciam o Estado da vontade de seus participantes e o posicionam como
ser autônomo e responsáveis por seus atos e comportamento.
A base
para a responsabilização do Estado fulcra-se justamente na possibilidade científica
das ações do seu poderoso por si só.
Perceber
as consequências das ações do Estado é efeito do trabalho científico pautado na
separação concreta do cidadão e da entidade administradora.
Dessa
forma, a problemática trazida pela formação do Estado é superada pela eleição
de mecanismos coerentes de controle que afastam as pessoas físicas envolvidas e
apresentam o “ser” próprio para se responsabilizar.
A
responsabilidade civil do Estado está conectada ao reconhecimento no ordenamento
jurídico de personalidade jurídica independente das ações das pessoas físicas que
dão materialidade a essas atitudes.
A irresponsabilidade
por danos advindos do Estado tem relação com a existência indissociável, até
então, entre a figura do monarca (soberano) e o Estado. Destarte, a
personalidade jurídica dá margem aos pleitos de indenização que são tão comuns
no dia a dia do povo brasileiro.
Diante
da possibilidade de responsabilização do Estado, tendo em vista sua personalidade
jurídica, os doutrinadores passaram a sistematizar o tema. Basicamente dividem a
responsabilidade civil do Estado levando em consideração os momentos de irresponsabilidade
total, o de responsabilidade subjetiva e da objetiva.
Atualmente,
o Brasil está predominantemente utilizando a teoria da responsabilidade
objetiva[4] em observância a comando
expresso da Constituição da República com a seguinte redação:
Art. 37 § 6º As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.[5] (BRASIL, 1988).
Registre-se
também que a sintonia entre a Constituição da República e o Código Civil só foi
observada em 2002 com a promulgação da Lei nº 10.406, de 10.01.2002. O codex
civilis disciplina no art. 43 a responsabilidade objetiva das pessoas
jurídicas de direito público interno em coerência sistêmica com o instituto
trabalhado, entretanto, em relação às empresas privadas prestadoras de serviços
públicos.
Inicialmente
a fase era de irresponsabilidade do Estado que perdurou até o século XIX e fora
construída com base na teoria dívida dos reis. E, as condutas dos monarcas eram
emanadas de Deus, por isso divinas. Razão, por que não faziam mal a ninguém.
Ressalte-se
que alguns poucos Estados continuaram irresponsáveis até o século XX, entre os
quais os EUA e a Inglaterra, 1946 e 1947, respectivamente.
A fase
da irresponsabilidade perdurou por mais tempo na sociedade e, ainda pode ser
percebida indiretamente na modernidade. A maioria dos doutrinadores pátrios
afirmam a irresponsabilidade do Estado não foi acolhida pelo Brasil.
No
entanto, Nascimento (1995) menciona a inexistência de responsabilidade pela
intangibilidade do Rei e dos mandatários durante a fase de colonização das
terras brasileiras. Ademais, o doutrinador assinala a existência das Ordenações
Portuguesas como regra vigente no Brasil e salienta que, em especial as
Ordenações Filipinas, foram baseadas na máxima “o rei não erra”.[6]
Também
apresenta a possível fase de irresponsabilidade civil no Brasil colonial. O que
refutaria boa parte da doutrina que mantém o entendimento quanto a inexistência
de irresponsabilidade.
O
livro quinto das Ordenações Afonsinas retrata em seus títulos comandos e
consequências para os súditos do Rei. O primeiro deles é direcionado aos hereges
que afrontam a justa posição do Rei e dos Príncipes que são enviados por Deus para
governar o povo.
Nas Ordenações,
os títulos, temas de cada enunciado, acabam por demonstrar que o súdito não
teria a possibilidade de encontrar reparação frente as sempre acertadas
atitudes do Rei.
A
irresponsabilidade é decorrente da ideia de soberania do governante,
normalmente o monarca, e do Estado sobre o cidadão. E, mesmo após a Revolução
Francesa, de 1789,[7]
com a adoção da tripartição dos poderes, a população era relutante em admitir a
interferência do juiz nas funções do Legislativo, exercidas pelos
representantes do povo, fato que manteve em certa medida a irresponsabilidade
estatal em desfavor dos cidadãos.
Registre-se
que a França não foi a primeira a instituir o Estado de direito com divisão de
poderes. Os Estados Unidos a antecederam em 1787.
A
irresponsabilidade do Estado foi se tornando insustentável com o passar do
tempo. Para trazer segurança jurídica
buscou-se a situação ideal em que o Estado se submetesse às próprias leis.
Nesse
contexto, o primeiro passo para a superação da irresponsabilidade do Estado é a
previsão legal de situações específicas em que o Estado é responsabilizado por danos
decorrentes de conduta de seus agentes, em desconformidade com o Direito posto.
A legalidade,
nesse sentido, é apresentada como situação de início da suplantação da irresponsabilidade
estatal, que perdurou por séculos.
Na
análise contemporânea, é necessário ressaltar que a irresponsabilidade do Estado
pode decorrer da impossibilidade da perquirição da reparação nos órgãos
competentes. O cidadão sem amparo para acesso ao Judiciário, fica sem ação em
relação à reparação civil.
Indenizar
tem a ver com receber algo por conta de algum prejuízo causado por alguém.
Reparar tem a ver com consertar o que foi danificado. Um dos principais
aspectos do Direito Civil é a reparação de danos e a vedação do enriquecimento
sem causa.
A
indenização nasce do rompimento de uma obrigação que decorre de um ato que
originara o dever de arcar com as consequências. A responsabilidade, nessa
linha, é justamente qualquer situação na qual uma pessoa deva arcar com um ato,
fato ou negócio jurídico danoso.
Compensação
é a reparação “in natura”, substituindo o bem por outro semelhante, ou
restaurando o bem danificado. (com = mesmo; penso = peso). Segundo a
etimologia, é a reparação com “volta ao mesmo peso”; a devolução do próprio
bem.
A
reparação integral do dano vai além da indenização do imóvel afetado. A
legislação ambiental brasileira, por exemplo, deixa evidente que a empresa
causadora do dano ao individuo ou a coletividade tem por obrigação de reparar
esse dano, de modo a fazer as circunstâncias da vida dessas pessoas afetadas
voltarem a ser como eram ou melhores do que eram antes do dano, na maior medida
possível.
A
grosso modo, existem sete tipos principais de indenização previstas no direito
pátrio, a saber: indenização por danos materiais, indenização por danos morais,
o que tecnicamente é compensação, indenização por danos existenciais.
O dano
existencial possui caráter objetivo, pois o evento danoso modificou a realidade
da pessoa, de modo a obrigá-la a desistir de propósitos anteriormente traçados.
Indenização por danos sociais que são também um tipo novo de indenização,
refere-se ao rebaixamento do nível de vida em sociedade e pode ser tanto moral
quanto de qualidade de vida.
Indenização
por perdas de chance que incide sobre o que vítima deixou de ganhar, é frustração
da oportunidade de um ganho patrimonial, ou ainda, pela redução de uma
vantagem, por ato ilícito de um terceiro. Deverá ser real e concretamente
comprovada. Indenização por dano estético deixado por marcas permanentes no
corpo da vítima, causando incômodo psicológico e estético.
É uma
restituição comum, em casos de atentado à integridade física e em erros
médicos. São aqueles que deixam cicatrizes, sequelas ou quaisquer outros
sintomas que causem insatisfação da pessoa.
E,
finalmente, a indenização por morte. Quando o evento degradante culmina em
morte, é de responsabilidade do culpado quitar as despesas geradas com o
hospital e funeral. Assim como, pagar à família da vítima a quantia com a qual
o morto contribuiria em seu tempo de vida produtiva. Portanto, esse valor é
chamado de indenização por morte.
Dessa
forma, o Estado, além do dever de manter previsão legal adequada aos anseios sociais
quanto à responsabilização, deve manter o aparato judicial coerente com essa
sistemática.
O
Estado não deve ser formalmente responsável, e materialmente irresponsável por
seus atos. Dessa forma, o Estado de Direito deve prever as hipóteses de
responsabilidade, os ritos processuais e o acesso ao Judiciário de maneira
simplificada.
A
simplicidade decorre da posição de desvantagem do cidadão em situação de
conflito com o Estado. Para equilibrar a relação jurídica, o ordenamento
jurídico prescreve meios para facilitar a ação do cidadão.
Entre
os meios, cita-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado. Nessa
hipótese, apenas o dano e o nexo de causalidade devem ser apresentados.
Enfim,
afastar o cidadão da oportunidade de galgar a justa reparação é forma de solapar
o comando constitucional de não lesionar que é imposto ao Estado. Esse ato de ocultar
as garantias e desviar a atenção do povo está entre as diversas atitudes
ardilosas utilizadas por alguns governantes com o intuito de negar à
população o efetivo acesso aos direitos e garantias fundamentais.
As
garantias contra esses abusos estão previstas na Constituição Federal da República
de 1988, que devem ser realizadas nos parâmetros aceitáveis, universais e justos,
tendo-se em vista a insignificância do cidadão em face do Estado.
A
inobservância de garantias constitucionais dá margem ao Ente Público de, por
meio de artifícios ilegais, eximirse de responsabilidade, em desfavor do
cidadão que, sem ação, sofre as consequências da violação de seus direitos
resultado do descumprimento da Constituição da República.
Existem
as situações em que o Estado, principalmente, os Estados-membros e os Municípios,
embora condenados judicialmente, não cumprem as decisões judiciais em tempo
hábil, configurando hipótese de descumprimento da Constituição e da legislação
infraconstitucional. A propósito, traz-se a título de exemplo ilustrativo, o
art. 100 da Constituição da República.
O referido
artigo prescreve que depois do trânsito em julgado e da liquidação da sentença,
o Presidente do respectivo Tribunal encaminhará até o dia 1º de julho, ao órgão
fazendário, a requisição do precatório, para que o valor seja consignado no
orçamento anual do exercício subsequente, devendo o pagamento ser efetuado no
exercício, observando-se a ordem cronológica da apresentação dos precatórios.
Frise-se que esse prazo de até um ano e meio para a quitação dos mesmos não é
cumprido pela maioria dos Entes federados.
Alega-se
que o problema dos precatórios atinge a todos os cidadãos e a todas as
instituições do País, sendo o mais grave da história constitucional da
República. A diferença, neste momento histórico, é que o problema, que antes
era crônico e remontava aos tempos da proclamação da República, agora se tornou
agudo e constante em função do julgamento do Supremo Tribunal Federal que, ao
declarar inconstitucional o parcelamento do pagamento dos precatórios, poderá
(hipoteticamente) suscitar uma crise institucional.
Justificam-se
essa morosidade, alegando a falta de recursos financeiros, fato que pode servir
de subterfúgio para o não pagamento das indenizações devidas, no prazo
estabelecido pela Constituição Federal vigente, o que leva, ou pode levar, a situação
contemporânea de irresponsabilidade do Estado. Há a responsabilização na lei e
na Justiça, mas prevalece a irresponsabilidade na realidade prática vivente.
E, sobre os acordos realizados entre a
Administração Pública e os credores dos precatórios, situação em que o cidadão
renuncia até 40% (quarenta por cento) de seu precatório deixando de receber
grande parcela do seu montante, conquistado mesmo depois longa e onerosa
batalha judicial.
O deságio
prejudica o direito concreto na medida que afasta o cumprimento regular das obrigações
do Estado. A prática do deságio como padrão para os precatórios leva novamente a
encriptação, ocultação, artifícios que configuram mitigação ou até a
irresponsabilidade do Estado.
A
dificuldade dos credores de receber os pagamentos devidos pela Fazenda Pública
em virtude de sentença judiciária foi um dos motivos que levou à
constitucionalização do precatório (VAZ, 2005, p. 80). Assim foi que o
constituinte fez constar pela primeira vez no art. 182 da Constituição de 1934
a disciplina dos precatórios, estabelecendo a observância obrigatória da ordem
de apresentação dos precatórios, sendo vedada a designação de caso ou pessoas
nas verbas legais, prática useira antes da Constituição de 1934.
A
partir da Constituição de 1934, a disciplina dos precatórios sempre esteve
presente no texto constitucional, constando do art. 95 da Constituição de 1937;
do art. 204 da Carta de 1946; do art. 112 da Carta de 1967, passando para o
art. 117, pela Emenda Constitucional no 1, de 1969, que apenas deslocou a
matéria do art. 112 para o art. 117, sem alteração substancial na redação do
dispositivo.
“Apenas
com o advento da Constituição de 1946 (art. 194), o ordenamento jurídico
consagra a teoria da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito
público, que é mantida na Constituição de 1967 (art. 105) e na EC 1/1969 (art.
107).” (In: OLIVEIRA, Rafael Rezende. Curso de Direito Administrativo,
6ª edição, p. 765).
Vale
dizer, quando pendentes de pagamento pela Fazenda Pública, seriam efetivamente
quitados, de que o País pudesse seguir pela trilha dos Estados que podem ser
considerados republicanos e democráticos de Direito. Tal, contudo, não ocorreu.
Ao contrário do que era esperado e socialmente desejado, o problema agravou-se
após a edição da Constituição de 1988, como se lê da explanação do Ministro
Marco Aurélio na Intervenção Federal no 2.915-5-SP.
O
descumprimento do disposto no texto original da Carta de 1988 acabou forçando a
edição de sucessivas Emendas que, por sua vez, também acabaram descumpridas.
Foram nada menos do que quatro Emendas alterando a disciplina dos precatórios.
Inicialmente,
o dispositivo original foi alterado pela EC no 20, de 1998; posteriormente,
veio a EC no 30, de 2000; depois, a EC no 37, de 2002; e, finalmente, a EC no
62, de 2009, que o Supremo Tribunal Federal acaba de declarar inconstitucional
quanto ao parcelamento do pagamento dos precatórios.
As
estruturas sociais e estatais podem assegurar que os direitos dos cidadãos não
sejam exercidos de maneira correta, acarretando grave prejuízo social.
As
observações trazidas pelo doutrinador são válidas para criar a leitura crítica
sobre alguns institutos que se perpetuam no Brasil sem explicação aparente e
que escondem a violação do direito do cidadão.
A
responsabilidade pessoal do agente público foi o momento de transição para a responsabilidade
subjetiva do Estado, por culpa anônima. Cabe lembrar que a responsabilidade da
pessoa é decorrente da visão civilista de culpa[8] ou dolo. É o que se constata
na Constituição brasileira de 1824, que nos artigos 133, 143, 156 e 179, cuida de
fato, nexo e dano, nos casos de dolo ou culpa. (BRASIL, 1824)
O
momento de transição é visto na Constituição brasileira de 1824 no tocante aos
artigos 99 e 129, que ressaltam que o Imperador é sagrado e inviolável,
insusceptível de responsabilização, bem como a Regência e o Regente.
Verifica-se
que os artigos citados trazem a coexistência da irresponsabilidade do Governante
e responsabilidade dos agentes individualmente considerados.
A
responsabilidade pessoal do agente público não foi abandonada no Direito
brasileiro. O objetivo dessa manutenção é evitar que o agente seja inconsequente
e utilize a máquina pública com fins diversos do interesse público.
Nessa perspectiva,
ressalte-se a evolução do combate à corrupção experimentada pelo Brasil nos últimos
anos. Dentre as diversas operações, a mais proeminente denominada “Lava-Jato”,
vem alcançando os diversos níveis de corrupção.
A
operação alcançou o setor público nas pessoas ocupantes de cargos dos primeiros
escalões do Executivo, de parlamentares e assessores do Legislativo, dos Entes
Federados, de diretores de empresas estatais e o setor privado, como as
empresas privadas, empresários e altos executivos corruptores, que efetivamente
contaminam a estrutura política do Brasil.
A
responsabilidade do agente é prerrogativa do Estado de acordo com a jurisprudência
constitucional e não pode ser invocada pelo particular. Assim, assegura-se o direito
do cidadão em buscar a responsabilidade do Estado.
O
momento de transição é visto na Constituição de 1824 no tocante aos artigos 99 e
129, que ressaltam que o Imperador é sagrado e inviolável, insusceptível de responsabilização,
bem como a Regência e o Regente.
Verifica-se
que os artigos citados trazem a coexistência da irresponsabilidade do
Governante e responsabilidade dos agentes individualmente considerados.
(BRASIL, 1824)
Na
análise contemporânea, a responsabilidade pessoal do agente público não foi abandonada
no Direito brasileiro.
O
objetivo dessa manutenção é evitar que o agente seja inconsequente e utilize a
máquina pública com fins diversos do interesse público. Nessa perspectiva,
ressalte-se a evolução do combate à corrupção experimentada pelo Brasil nos últimos
anos.
Dentre
as diversas operações, a mais proeminente denominada “Lava-Jato”, vem
alcançando os diversos níveis de corrupção.
A
operação alcançou o setor público nas pessoas ocupantes de cargos dos primeiros
escalões do Executivo, de parlamentares e assessores do Legislativo, dos Entes
Federados, de diretores de empresas estatais e o setor privado, como as
empresas privadas, empresários e altos executivos corruptores, que efetivamente
contaminam a estrutura política do Brasil
A
responsabilidade do agente é prerrogativa do Estado de acordo com a jurisprudência
constitucional e não pode ser invocada pelo particular. Assim, assegura-se o direito
do cidadão em buscar a responsabilidade do Estado.
O
instituto da culpa é tipicamente estruturado na esfera civil e, apesar disso, ainda
tem aplicação na jurisprudência constitucional no tocante à responsabilidade
estatal.
Efetivamente
não é possível falar-se em superação das antigas fases da responsabilidade do Estado,
pois todas ainda mantêm ligação com o moderno Direito. Para compreender o desenvolvimento
da responsabilidade, cabe, então, refletir sobre o instituto da culpa civil.
A
culpa no ordenamento jurídico é mais do que o sentimento sob a ótica freudiana.
O instituto da culpa é marco importante
para a sociedade, pois delimita a responsabilidade do agente público. Ela é o
resultado moral ou jurídico de determinada ação e da consequência daquela ação.
Henri
de Page define culpa como:
“Muito simplesmente um erro de
conduta, é o ato ou fato que não teria praticado a uma pessoa prudente;
avisada; cuidadosa em observar as eventualidades infelizes que poderiam
resultar para outrem”.
O
Código Civil brasileiro não traz em seu bojo o que seja culpa, mas, com o
estudo da doutrina pode-se dizer que culpa é não cumprir uma obrigação vigente.
O legislador pátrio, principalmente no âmbito das relações Civis, sempre foi
influenciado pelo Direito Romano, contudo, na área da Responsabilidade Civil
quem se mostrou mais evidente a influenciar as normas do Código de 1916 foi o
Código Francês que dizia: “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autri
un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
(g.n.) Faute faz a menção a um dever de reparar um dano.
Os franceses
sentiram muita dificuldade em definir a culpa, pois a conotação de faute
é muito ambígua, significando erro ou falta. Em que pese esse dispositivo francês
tenha sido de extrema importância para a noção de responsabilidade civil no
Brasil, o legislador de 1916 preferiu valer-se da noção de ato ilícito como
causa da responsabilidade, e o Código Civil de 2002 continuou nesse mesmo
seguimento, trazendo em seu artigo 927 C.C.
O impacto
social dado às especificidades da culpa fará com que a punição para o agente
público seja mais branda ou não, considerando que os valores sociais estão intimamente
ligados a atribuição de peso à culpa propriamente dita.
A
responsabilidade convencional necessita da culpa para ser aplicada. Nesse sentido,
as culturas antigas já aplicavam a lei da reciprocidade, conhecida como a lei
de talião. Os antigos ensinamentos de Deus ao povo hebreu foram imortalizados
no Torá[9], que traz regras sociais
inestimáveis que, se constatada culpa, geram consequências severas.
O
livro “Semoto / Êxodo” descreve situações de culpa e as consequências que ela
trará: “[...], mas se resultar dano, então darás vida por vida, olho por olho,
dente por dente, mão em mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por
ferida, golpe por golpe.
A
culpa é a “violação de dever jurídico de modo a causar dano à outrem”. No espectro
da culpa existem várias faixas de ação expressas em dolo, culpa por omissão, escolha
e imprudência.
O
instituto da culpa também se divide em contratual ou extracontratual, significa
dizer que a relação jurídica entre os sujeitos se estabelece por contrato prévio,
também conhecido como responsabilidade obrigacional, ou pela ação, que é
gatilho para a nova relação jurídica sem a necessidade de prévio acordo.
Muito
se debate sobre a apropriação da culta no âmbito do direito público, pela
ligação direta e típica ao direito civil. A utilização do instituto da culpa
civil no âmbito das pessoas jurídicas e, principalmente, no Direito
Administrativo é superficial e, ainda sofre dificuldades.
De
acordo com Di Pietro (2014), inicialmente adotou-se a teoria civilista para a responsabilização
do Estado, o que acabou fracassando devido aos aspectos peculiares da culpa e
sua aplicação para as pessoas jurídicas.
Faria
(2015) aponta o caso que marca o rompimento com o paradigma da responsabilidade
pautada na teoria puramente civilista. Trata-se do caso Agnès Blanco ocorrido
na França no ano de 1873 e deu ensejo ao processo no âmbito do Direito Público para
apurar a responsabilidade da empresa estatal sobre o acidente.
Nesse
viés, a verificação da culpa passa a ser vislumbrada na falta do serviço, sem buscar
a identidade do agente envolvido, o que foi definido como culpa anônima da Administração
Pública. Contemporaneamente, não há o abandono completo dessa vertente de subjetividade
em relação às omissões do Estado.
Os
julgados constitucionais salientam que a responsabilidade do Estado no caso de
inação é subjetiva e depende, em alguns casos, de conduta reiterada para se
configurar.
No
caso da omissão genérica, o Estado tem o dever genericamente de realizar
determinadas ações. Por exemplo, o Estado tem obrigação de fiscalizar as vias
de trânsito. Quando há uma batida de carro, não necessariamente a omissão da
fiscalização vai ser a causa da batida. Nesse caso, o dever de fiscalizar as
vias é genérico. Portanto, nas omissões genéricas, a responsabilização só ocorre
com a comprovação de culpa ou dolo (teoria subjetiva).
Outros
julgados dão visibilidade à responsabilidade objetiva mesmo em casos de omissão.
A chamada “omissão específica”[10] leva em conta algumas
condutas que são presumidamente verificáveis, em consonância com o risco
administrativo no caso concreto.[11]
Já a
teoria do risco administrativo, adotada pela Constituição Federal Brasileira,
assevera que o Estado será responsabilizado quando causar danos a terceiros,
independente de culpa. Exceto nos casos de existência de excludentes como as de
caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima.
Mas
esclareça-se que se adotou apenas a teoria do risco moderado ou mitigado e não
do risco integral, que não admite qualquer causa de exclusão da responsabilidade.
Cabe
esclarecer, entretanto, que como exceção e em hipóteses pontuais expressamente
previstas em lei, pode-se identificar a adoção da teoria do risco integral na
responsabilidade por danos nucleares[12] (CF/1988, art. 21, XXIII,
d) e por danos causados por atentados terroristas, atos de guerra ou eventos
correlatos, contra aeronaves de matrícula brasileira operadas por empresas
brasileiras de transporte aéreo público (Lei 10.755, de 09.10.2003).
Nesses
casos ademais de inexigir-se o elemento culpa, dispensa-se até mesmo o nexo
causal, inadmitidas quaisquer causas excludentes da responsabilidade. Bastam
apenas o fato material e o dano correspondente. (In: STOCO, Rui. Tratado
de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 3ª.ed. rev., atual. e
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 187).
Apesar
de ser mais coerente com o ordenamento jurídico, a demonstração da não conduta do
Estado é difícil para o cidadão, fator que pode inviabilizar a reparação civil.
Entretanto, a doutrina majoritária ainda sustenta a responsabilidade civil
subjetiva do Estado nos casos de condutas omissivas. Entre os doutrinadores
filiados a essa corrente de pensamento cita-se Dias (2004).
Jurisprudência
“responsabilidade subjetiva”: AI 850063 MG. Rel. Min. Rosa Weber. DJ
10.09.2013; ARE 684736 CE. Rel. Min.
Rosa Weber. DJ 20.08.2013; RE 585007 DF. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. DJ 05.05.2009;
RE 603342 PE. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. DJ 02.12.2010. (BRASIL, 2017)
Jurisprudência
“responsabilidade objetiva”: RE 677139 PR. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ
20.10.2015; ARE 813433 RJ. Rel. Min. Rosa Weber. DJ 14.10.2014; RE 692332 PB.
Rel. Min. Teori Zavascki. DJ 06.08.2013; RE 677283 PB. Rel. Min. Gilmar Mendes.
DJ 17.04.2012; RE 594902 DF. Rel. Min. Cármen Lúcia. DJ 09.11.2010; RE 607771
SC. Rel. Min. Eros Grau. DJ 20.04.2010; RE 573595 RS. Rel. Min. Eros Grau. DJ 24.06.2008.
(BRASIL, 2017)
Apesar
de existir doutrina tendente ao pensamento publicista em relação à responsabilidade
do Estado, muitas vezes a jurisprudência resvala em questões de ordem subjetiva
tipicamente civis para justificar e basilar as decisões.
O
elemento subjetivo tem como cerne a culpa e depende do sujeito para ser
verificada. A culpa, normalmente, se liga diretamente ao agente público e a
prova de tal conduta ou omissão é complexa e dispendiosa para o cidadão
prejudicado.
A
título de análise, apresenta-se a problemática envolvendo o Estado e a verificação
de culpa em suas ações. A complexa relação entre o terceirizado e a
Administração Pública perpassa a teoria subjetiva em meio ao comando
constitucional de responsabilidade objetiva, art. 37 § 6º da Constituição da
República vigente.
Quanto
à responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público, o entendimento atual do STF é que ela alcança
os usuários e os não usuários do serviço.
A responsabilidade subsidiária do ente público
por débitos trabalhistas decorrente da terceirização é o típico problema da
demonstração de culpa que o trabalhador deverá assumir.
A
jurisprudência constitucional admite a responsabilidade da Administração Pública
no caso de culpa in eligendo ou in vigilando[13],
quando o Estado deixa de fiscalizar a empresa prestadora do serviço,
terceirizada. Cumpre salientar que a Constituição vigente não prevê a responsabilidade
subsidiária subjetiva[14] para qualquer ente
federativo.
Outrossim,
a responsabilidade subsidiária subjetiva deixa o cidadão, que trabalha para o
Estado em regime de terceirização, desguarnecido de proteção objetiva, mais
fácil de ser alcançada.
Nessa
mesma ideia de culpa, fala-se em culpa publicizada7 que é associada à falta do serviço.
O Min. Carlos Velloso, na formação da jurisprudência constitucional, ventila a ideia
da teoria subjetiva para verificar a responsabilidade do Estado quando ele é
omisso.
Dessa maneira,
o julgador adverte que se deve demonstrar culpa por negligência, imperícia ou imprudência[15] para concretização do
dano causado pelo Estado.
Indaga-se
sobre a possibilidade de verificação de culpa no contexto constitucional de 1988.
É decorrência lógica do art. 37 § 6º que o dano deve ser cometido por agente
público, o que traz a necessidade de coadunar o ato ao dano pelo nexo de
causalidade.
Aproveito
para citar as jurisprudências abaixo-relacionadas:
Jurisprudência
“responsabilidade subsidiária do Estado na terceirização”: RCL 12634 RO. Rel.
Min. Roberto Barroso. DJ 22.09.2015; Rcl
15512 AM. Reli Min. Rosa Weber. DJ 15.03.2016; RCL 21956 PE. Rel. Min. Edson Fachin. DJ 01.03.2016; RCL 13703
DF. Rel. Min. Rosa Weber. 15.12.2015. (BRASIL, 2017)
Jurisprudência
“culpa publicizada”: RE 179147, Rel. Min. Carlos Velloso. DJ 27.02.1998; RE
372472 RN. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ
04.11.2003; RE 369820 RS. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ 04.11.2003; RE 179147 SP. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ
12.12.1997. (BRASIL, 2017).
Não há
a obrigatoriedade de demonstrar dolo ou culpa em qualquer caso, importando
apenas a conduta em si, seja ela de ação ou de inação.
A
subjetividade está associada apenas ao funcionário público quando ele é confrontado
pelo Estado. A utilização de preceitos de culpa para elidir a responsabilidade estatal
pode estar associada ao encobrimento de constantes violações dos direitos do cidadão
em face da sistemática indigna de governo.
A
responsabilidade objetiva do Estado é circunscrita de divergências no tocante a
aplicação prática no Supremo Tribunal Federal. A origem desse instituto é
decorrente da dificuldade de associar a culpa, subjetividade, ao Estado. O Min.
Celso de Mello salienta os pressupostos da responsabilidade da Administração:
Os
elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade
civil objetiva do Poder Público
compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o eventus damni e o
comportamento positivo (ação) ou negativo
(omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que
tenha, nessa específica condição, incidido
em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de
causa excludente da responsabilidade
estatal. (BRASIL, 2012).
A
discussão sobre a licitude ou ilicitude das ações do Estado não deve ser suportada
no tocante à responsabilidade objetiva[16]. O dano causado pela ação
lícita deve ser indenizado da mesma forma.
Não é
possível desconsiderar a responsabilidade do Estado com pretexto de licitude.
No entanto, ela poderia ser considerada na dosimetria do valor da indenização.
A
inversão do ônus da prova cabe a admissão de excludentes é ventilada no Supremo
Tribunal Federal em algumas questões da teoria objetiva de responsabilidade.
Nesse
contexto, sublinha-se as ponderações da doutrina balizada que aponta ocultação
da culpa no aspecto objetivo, o que levaria a aplicação de uma teoria subjetiva
oculta no ordenamento jurídico pátrio.
A
demonstração de inexistência de culpa por parte do Estado resvala tanto a questão
processual de admissão do contraditório e da ampla defesa, quanto à questão de subjetividade
das condutas do Estado. Por consequência, a inversão se torna perigosa na
medida em que dá margem a não responsabilização do Estado por danos quando se
alega outras excludentes.
A
evolução da responsabilidade estatal levou a objetivação do instituto. Nesse contexto,
adotou-se a formulação pautada na igualdade entre os cidadãos em que os danos causados
ao indivíduo seriam repartidos para toda a sociedade. Assim as teorias do risco
foram desenvolvidas para balancear a responsabilidade objetiva do Estado.
Os
riscos se dividem em administrativo e integral que em síntese admitem ou não as
cláusulas excludentes do nexo de causalidade[17]. A tentativa básica do
risco administrativo é evitar a má conduta do indivíduo, que poderia valer-se
do risco integral para alcançar a indenização sem amparo jurídico.
A
vertente do risco administrativo está relacionada ao ato lesivo e injusto causado
pela Administração Pública. Não há a perquirição de culpa no tocante aos atos da
Administração, bastando somente na lesão e no nexo de causalidade.
Esse é
o raciocínio predominante no Direito brasileiro, por conseguinte a
jurisprudência vem reforçando a existência e aplicação da tese em muitos
julgados. (MEIRELLES, 2005)
O
risco administrativo possibilita afastar ou verificar a existência de responsabilidade
pela análise do caso concreto.
Busca-se
dessa forma, estabelecer a argumentação lógica de fatos e danos, e para além
disso, abre-se a possibilidade de demolição do alegado na presença de
excludentes de responsabilidade. A ação singular da vítima, a força maior e o
caso fortuito seriam formas de romper o nexo de causalidade.
A jurisprudência,
sobre o risco administrativo apresentada em nota de rodapé, lembram das
constantes violações de direitos pela omissão e que seria inviável admitir
teorias que facilitassem a responsabilização por omissão.
A
jurisprudência constitucional traça o parâmetro de virtude aristotélica. O meio-termo,
nem muita responsabilização do Estado, nem pouca. O pensamento que mais se aproximaria
dessa virtude é o do risco administrativo.
Não quer isso dizer que os ideais de justiça
são alcançados, sob essa ótica, o meio-termo poderia também ser utilizado como forma
de prejudicar o direito do cidadão. A questão econômica é o principal fator que
impossibilita a reparação do Estado em todas as hipóteses.
A
ponderação deve ser feita sem perder o foco nos direitos fundamentais. O equilíbrio
no orçamento público deve forçosamente também incluir as indenizações e
diminuir gastos desnecessários, por exemplo, evitar: centro de compras no Congresso
Nacional, publicidade/propaganda dos Entes federados e outras vantagens
financeiras que só devem ser consideradas quando os demais direitos, mais
importantes, forem assegurados.
A
situação de risco criado é utilizada como forma de justificar a responsabilidade
do Estado nos casos em que ele cria circunstâncias de risco para os cidadãos.
O
risco criado ou suscitado pode derivar da situação de guarda de alunos, presos,
idosos e pacientes, também pode surgir da guarda de objetos.
Nos
ambientes geridos pelo Governo a responsabilidade é asseverada. Pessoas como alunos,
detentos, custodiados e outros sujeitos, desde que submetidos a situação de
risco pela ação da Administração Pública, são resguardados.
Na
sistemática do risco criado a justificativa para a responsabilização do Estado está
diretamente ligada à causalidade interna do evento. Eventos tipicamente
externos, por exemplo, a queda de raio, não causaria responsabilização do
Estado.
No
caso da causalidade interna, a circunstância criada pelo Estado elevaria o
risco do problema em si, por exemplo a briga de crianças na escola pública.
As
situações logicamente decorrentes do risco causado, chamadas de extensão da
custódia, também são de responsabilidade do Estado.
Dessa maneira,
a fuga de detento e o imediato cometimento de crime gera a responsabilização do
Estado. Cabe ressaltar que a condição de custódia deve ser determinante para o
acontecimento.
Mesmo
observando a sistemática do risco criado[18], a jurisprudência
constitucional tem rechaçado a ideia de responsabilidade ligada ao risco
integral.
A desconsideração
de causas que poderiam quebrar o nexo de causalidade traria, segundo a
doutrina, um risco sem precedente, conforme já comentado. Olvidam-se que a
própria Constituição já delimitou as possibilidades de responsabilização, por
isso, ir além, ou aquém da determinação é inconstitucional, por mais que a as
decisões perpetuem essa prática.
O
risco integral é retratado como ponto extremo da responsabilidade civil do Estado.
Por esse motivo, o risco integral não é opção para o Supremo Tribunal Federal, de
acordo com os julgados apontados em nota. (ARAGÃO, 2013)
No
entanto, o risco integral[19] parece ser a alternativa
que se coaduna melhor ao que foi previsto na Constituição brasileira vigente.
Mesmo assim, é visivelmente inviável a admissão de tal raciocínio no Estado
brasileiro pela imensa dificuldade na efetivação da responsabilização com fundamento
no risco integral.
No direito
pátrio, a Constituição Federal criou a possibilidade de duplicidade de
indenizações em caso de acidente de trabalho. De uma forma objetiva, responde o
INSS pela indenização tarifada devida ao empregado, seja qual for a causa do
acidente. Assim a responsabilização é integral, vale dizer, adotou o nosso
sistema a teoria do risco integral, sendo certo que, mesmo que o evento tenha
sido causado exclusivamente pelo empregado, remanesce o direito à indenização.
Por
outro lado, o empregado acidentado pode ser beneficiado por uma segunda
indenização caso reste provado que o empregador agiu com culpa ou dolo,
responsabilização subjetiva.
Não
obstante o Estado deve se empenhar para transcender essas dificuldades e se
colocar definitivamente na condição de responsável nos termos da Constituição.
Evitar
gastos desnecessários é forma coerente de começar os trabalhos de efetivação da
garantia constitucional de responsabilidade objetiva do Estado.
A
justificativa do risco integral é baseada na ampliação do princípio da
igualdade dos ônus e encargos sociais. A sociedade compartilha suas
dificuldades e arcam financeiramente com o prejuízo do semelhante. Todos seriam
responsáveis por todos no contexto paradigmático. (CAHALI, 2012)
A
regra que prevalece na jurisprudência constitucional é a do risco administrativo.
O risco integral é evitado sob a alegação de impossibilidade prática do Estado
em relação a arcar com os prejuízos da vida cotidiana do cidadão.
Para
viabilizar a responsabilidade do Estado seria necessário admitir as excludentes
de responsabilidade o que evitaria abusos no tratamento desse instituto em face
da própria sociedade.
Cabe
salientar que a doutrina do risco integral nunca foi admitida no ordenamento jurídico
do Brasil. Durante sua análise, o doutrinador Meirelles (2010) adverte que ela poderia
levar a situação de abuso de direito e a iniquidade social.
Apesar
de ser a opção que mais se adequa às premissas da responsabilidade objetiva, o
risco integral demanda maturidade social que os governos e a sociedade ainda não
refletiram.
Decorrem
do risco integral[20], implicação não só
financeira, mas também de relação do Estado com o particular de maneira
harmônica e honesta. Esse tipo de responsabilidade poderia interferir na vida
dos cidadãos de maneira indesejada, tendo em vista que todos pagariam por um
dano que o Estado não deveria suportar, e também poderia condicionar o Estado
ao litígio eterno.
Assim,
a mudança social exigida para admitir o risco integral é profunda. Aspectos
como a mediação, a educação do cidadão e o comprometimento da Administração
Pública, são fundamentais para essa transformação.
Saber
se a adoção do risco administrativo ao invés do risco integral não é derivada apenas
do pensamento de preservação do status quo do Estado é algo importante, mas difícil
de concluir. Falar que o risco integral nunca foi ou será admitido pelo Estado,
como pondera Meirelles (2010) é inviável.
Para
visualizar a aplicação basta recorrer ao Ordenamento Jurídico e as hipóteses em
que a jurisprudência e a doutrina aceitaram a ocorrência da responsabilização
objetiva pelo risco integral. São exemplos:
O dano
nuclear art. 21 da Constituição da República de 1988 “a responsabilidade civil
por danos nucleares independe da existência de culpa”. (BRASIL, 1988). Dentre
as decisões do Supremo Tribunal Federal, sublinha-se o voto do Min. Ricardo
Lewandowski, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.976, de 07.05.2014.
O
Ministro relembra a existência da responsabilidade por risco integral no
tocante ao dano nuclear, que é amplamente defendido na doutrina.
A
responsabilidade por dano ambiental foi tratada pela Lei nº 6.938, 31.08.1981 como
prescindível de culpa. Posteriormente, o julgado do Superior Tribunal de Justiça
abordou a temática do risco integral nesses casos no Recurso Especial (RE)
13.737.88 SP.
Art.
14 §1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os
danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério
Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (BRASIL, 1981)
Como
sugere Baracho Júnior (2000) o risco integral, em especial para o dano ambiental,
advém da intangibilidade das causas de excludente de responsabilidade.
A ponderação
traz consequências mais rígidas para o autor do dano, sendo essa a resposta à displicência
em relação ao meio ambiente que se observa no Brasil.
A
assunção de responsabilidade pela União nos casos de atentados terroristas ou atos
de guerra contra aeronaves é descrita na Lei nº 10.309 12.11.2001. A referida
lei traz a sistemática do risco integral para o Ordenamento Jurídico dizendo:
Art.
1º Fica a União autorizada a assumir as responsabilidades civis perante terceiros
no caso de danos a bens e pessoas no solo, provocados por atentados terroristas
ou atos de guerra contra aeronaves de empresas aéreas brasileiras no Brasil ou no
exterior. (BRASIL, 2001)
A
responsabilidade objetiva por risco integral é assunto que permeia a jurisprudência
constitucional, seja para a aplicação em alguns casos, seja como paradigma para
basilar o risco administrativo.
Por
certo, a evolução da responsabilidade do Estado não está completa e dependerá da
movimentação da sociedade e da situação fática para que seja ponderada a sua efetiva
aplicação. Surgirão, certamente, novos
casos possuirão valor emblemático com o novo modelo de precedentes trazido pelo
Código de Processo Civil de 2015, a jurisprudência constitucional servirá de
instrumento para evitar decisões divergentes no Judiciário.
A
Constituição brasileira de 1988 foi fruto da preocupação popular em ter seus direitos
resguardados em face do Estado. Foram associados direitos e garantias
fundamentais com diversos comandos de ação para o Estado.
Surge
então a difícil tarefa de compatibilizar os gastos públicos e a efetivação de
direitos para o povo. Dotada com muitos
deveres e pouco engajamento dos políticos brasileiros, a falta de prestação das
obrigações do Estado virou patologia estrutural.
A
Constituição Federal brasileira vigente não cumprida gera a chamada omissão
estatal e o cidadão permanece impotente para agir contra a lentidão e inação do
Estado.
Várias
promessas e pouca ação. O verbete é corolário da omissão do Estado frente às determinações
constitucionais. Assim, a omissão do Estado pode ser sentida em várias situações.
A má
conservação de estradas, o descaso médico da saúde pública, a falta de
fiscalização e outras proposições podem dar ensejo a omissão. As várias
possibilidades de verificar a omissão do Estado estão ligadas diretamente a
benevolência constitucional do povo para o povo.
Dessa
maneira, é prudente lembrar que a omissão, quando lesiva aos direitos de qualquer
pessoa, induz à responsabilidade civil objetiva do Estado, desde que presentes os
pressupostos primários, fato, nexo e dano, que lhe determinam a obrigação de
indenizar os prejuízos que os seus agentes públicos, nessa condição, hajam
causado a terceiros.
Dentre
as decisões, sublinha-se o RE 179147 que tem como relator o Min. Carlos Velloso.
Os julgadores adotaram a teoria subjetiva da responsabilidade civil do Estado
em da ação deve demonstrar que a conduta omissiva foi resultado de uma inação genérica
atribuída ao serviço público. (BRASIL, 1997)
Outras
decisões que trabalham a responsabilidade extracontratual por omissão do Estado
levam em consideração o aspecto objetivo do Direito.
O tema
vem se desenvolvendo no Supremo Tribunal Federal, que ultimamente adota a
teoria objetiva para os casos de omissão. Consagram os critérios objetivos para
definir quando o Estado está omisso ou não, com o intuito de nortear as
decisões das instâncias inferiores.
Registre-se
que, atualmente, a adoção do risco administrativo é preponderante. Sublinhe-se o RE 677139 PR cujo relator foi o
Min. Gilmar Mendes, julgamento, dia 22.10.2015.
Na ementa do respectivo recurso, salienta o julgador que a responsabilidade do Estado se dá pela teoria do risco administrativo mesmo que por omissão. Sendo pressuposto a demonstração de conduta, do dano e do nexo entre eles. (BRASIL, 2015)
A RESERVA DO POSSÍVEL E A BASE DA RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL[21]
De
acordo com Mendes (1999), a reflexão sobre a reserva do financeiramente possível
surgiu na Corte Constitucional alemã. Seu pressuposto é condicionar o exercício
de um direito previsto legalmente à disponibilidade financeira do Estado.
Atualmente,
a reserva do possível é vista com ressalvas na jurisprudência constitucional.
Apesar de utilizada, o Supremo Tribunal Federal é relutante em admitir a reserva
do possível sem a fundamentação adequada e que não perpasse ou deixe
transparecer a irresponsabilidade do Estado.
De
acordo com os julgados, a reserva do possível não poderia ser utilizada para
comprometer o núcleo básico do direito em análise. A omissão estatal não pode
comprometer e frustrar direitos previstos na Constituição. O Estado deve ser responsabilizado
pelo descumprimento de seus deveres, sendo vedado a ele dar apenas um parâmetro
financeiro para o seu não cumprimento.
A
responsabilidade do Estado não pode ser limitada pela reserva do possível na medida
em que é garantia constitucional para defesa do cidadão. O complexo arranjo econômico
para sustentar prestação digna para a população, resvala no descaso corrupto com
que alguns governantes administram o Estado.
Coadunar
com o erro estatal em casos de descumprimento de ordens constitucionais não
pode ser atitude do Poder Judiciário, para isso existe o instituto da
responsabilidade.
Novamente,
cita-se as jurisprudências abaixo-relacionadas
Jurisprudência
“teoria objetiva de responsabilidade quando por omissão”: RE 677139 PR. Rel. Min.
Gilmar Mendes. DJ 22.10.2015; ARE 847116 RJ. Rel. Min. Luiz Fux. DJ 24.02.2015;
AI 852237 RS. Rel. Min. Celso de Mello. DJ 25.06.2013; AI 734689 DF. Rel. Min.
Celso de Mello. DJ 26.06.2012; (BRASIL, 2017)
Jurisprudência
“aplicação da reserva do possível[22]”: ARE 855476 MG Rel. Min.
Dias Toffoli. DJ 16.02.2016; STA 223 PE. Rel. Min. Ellen Gracie. DJ 14.04.2008;
ARE 745745 MG Rel. Min. Celso de Mello. DJ 02.12.2014; ARE 727864 PR. Rel. Min.
Celso de Mello. DJ 04.11.2014; AI 598212 PR. Rel. Min. Celso de Mello. DJ
25.03.2014; ARE 855762 RJ. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ 19.05.2015. (BRASIL, 20.
Estruturar
a responsabilidade extracontratual do Estado no parâmetro filosófico contemporâneo
é possível nos ensinamentos de Habermas, citado por Baracho Júnior (2000). Depreende-se que a nova visão de Estado de
Direito depende da inserção da sociedade como o principal norte para o
desenvolvimento do ordenamento jurídico.
A
divisão dos encargos e prejuízos é alicerce para a responsabilidade civil do Estado,
essa estrutura é decorrência lógica da vontade do homem de viver na sociedade.
A aceitação do instituto é racional e está associada à construção do processo
democrático social de cada nação. Supera-se a ideia de castas sociais
defendidas e a validade da norma fica mais próxima da virtude democrática.
Sendo esclarecedora a doutrina do prof.
Rafael Oliveira:
“É tradicional a distinção entre a
responsabilidade civil por danos causados pela atuação estatal e o sacrifício
de direitos promovido pelo Poder Público. Enquanto a responsabilidade civil do
Estado pressupõe violação a direitos, normalmente mediante conduta contrária ao
ordenamento jurídico (ex.: indenização por erro médico ocorrido em hospital
público), gerando o dever de ressarcimento dos prejuízos causados, o sacrifício
de direitos envolve situações em que a própria ordem jurídica confere ao Estado
a prerrogativa de restringir ou suprimir direitos patrimoniais de terceiros,
mediante o devido processo legal e o pagamento de indenização (ex.:
desapropriação).
Na
responsabilidade civil, a lesão aos direitos de terceiros é efeito reflexo da
atuação estatal, lícita ou ilícita. Por outro lado, o sacrifício de direitos
compreende atuação estatal, autorizada pelo ordenamento, que tem por objetivo
principal (direto) restringir ou extinguir direitos de terceiros, mediante
pagamento de indenização.” (OLIVEIRA, Rafael Rezende. Curso de Direito
Administrativo, 6ª edição, p. 763).
O
assunto foi recentemente definido pelo STF na via da repercussão geral:
“O Estado responde, objetivamente, pelos
atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções,
causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável,
nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
Essa
foi a tese fixada pelo Plenário, ao negar provimento, por votação majoritária,
a recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida (tema 777),
interposto pelo estado de Santa Catarina contra acórdão que o condenou ao
pagamento de indenização por danos decorrentes de erro na elaboração de
certidão de óbito, que impediu viúvo de obter benefício previdenciário. O
ministro Marco Aurélio foi o único a votar contra a tese.
A
maioria dos ministros reafirmou entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal (STF) quanto à responsabilidade direta, primária e objetiva do
Estado, contida na regra prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal
(CF/1988), pelos danos que tabeliães e oficiais de registro, no exercício de
serviço público por delegação, causem a terceiros.
Também
fixou orientação no sentido do dever estatal de acionar regressivamente o
agente público causador do dano, por dolo ou culpa, considerado o fato de a
indenização ser paga com dinheiro público.
Prevaleceu
o voto do ministro Luiz Fux (relator), que rememorou a jurisprudência da Corte
sobre a matéria e afastou a possibilidade de se extrair a responsabilidade
objetiva dos notários e registradores do art. 37, § 6º, da CF/1988.
Salientou
a natureza estatal das atividades exercidas pelos tabeliães e registradores
oficiais. Essas atividades são munidas de fé pública e se destinam a conferir
autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.
Ademais,
consoante expressa determinação constitucional, o ingresso na atividade
notarial e de registro depende de concurso público, e os atos de seus agentes
estão sujeitos à fiscalização estatal (CF/1988, art. 236).
Segundo
o ministro Fux, não obstante os serviços notariais e de registro sejam
exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, a
responsabilidade civil desses agentes públicos está disciplinada, de forma
expressa, em norma de eficácia limitada, na qual definida a competência do
legislador ordinário para regular a matéria (CF/1988, art. 236, § 1º).
Isto
é, a própria Constituição Federal retirou o assento constitucional da regulação
da responsabilidade civil e criminal dos notários, relegando-a à autoridade
legislativa.
Frisou,
no ponto, que o art. 22 da Lei 8.935/1994, na redação dada pela Lei 13.286/2016
(3), regulamenta o art. 236 da CF/1988 e prevê que os notários e oficiais de
registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a
terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou
escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.
A
disciplina conferida à matéria pelo legislador consagra a responsabilidade
civil subjetiva dos notários e oficiais de registro. Portanto, não compete ao
STF fazer interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime
jurídico da responsabilidade civil de notários ao das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviços públicos (CF, art. 37, § 6º).
Ademais,
ressaltou que o art. 37, § 6º, da CF/1988 se refere a “pessoas jurídicas”
prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem
civilmente como “pessoas naturais” delegatárias de serviço público, nos termos
do referido dispositivo legal.
Vencidos,
em parte, nos termos e limites de seus votos, os ministros Edson Fachin e
Roberto Barroso, e, integralmente, o ministro Marco Aurélio.” RE 842846/RJ,
rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 27.2.2019. (RE-842846).
A
validade do art. 37 §6º, da Constituição da República de 1988, está no valor
que a sociedade atribui a ele, assim, a construção da norma e sua aplicação devem
estar intimamente ligadas a ação comunicativa. A função de integração social do
direito fica então associada não apenas à norma, mas ao consenso e a convenção
do cidadão.
Afastar-se
dessa premissa filosófica habermasiana, pela confusão de decisões e pela modificação
casuística da responsabilidade civil, demonstra a predominância da vontade do Estado
sobre a vontade social. A soberania popular é o que justifica e limita a responsabilização
do Estado e não o montante financeiro despendido para a reparação.
A racionalidade estruturada e condizente com a vontade do povo é o rumo decisório que a jurisprudência constitucional deve adotar, para que o Estado não seja dominante em relação ao povo, mas coerente com sua vontade.
Referências
ARAGÃO,
Alexandre Santos de. Curso de direito administrativo. 2ª. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2013.
BACARIM,
Maria Cristina de Almeida. Responsabilidade civil contratual e extracontratual.
A culpa e a responsabilidade civil contratual. Disponível em: https://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/rc3.pdf?d=636680468024086265 Acesso
em 27.1.2024.
BACELLAR
FILHO, Romeu Felipe. Responsabilidade Civil Extracontratual das Pessoas
Jurídicas de Direito Privado Prestadoras de Serviço Público. In: RDA, 9ª. Curitiba: Juruá, 2002.
BANDEIRA,
Paula Greco. A evolução do conceito de culpa e o artigo 944 do Código Civil.
Revista da EMERJ, v,11, nº42, 2008.
BARACHO
JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade por danos ao meio
ambiente. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.
BRASIL.
Constituição Política do Império do Brasil: DOM PEDRO PRIMEIRO, POR
(...). SENIB, Rio de Janeiro, 1824.
Disponível em:
BRASIL.
Lei nº 6.938, de 31 agosto de 1981. Dispõe sobre a Política (...).
Diário Oficial da União, Brasília, 1981. Disponível em:
BRASIL.
Constituição da República Federativa do Brasil: Nós, representantes do
povo (...). Diário Oficial da União,
Brasília, 1988. Disponível em:
BRASIL.
Lei nº 10.309, de 22 de novembro de 2001. Dispõe sobre a assunção pela
União de responsabilidades civis perante terceiros (...). Diário Oficial da
União, Brasília, 2001. Disponível em:
BRASIL.
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário
Oficial da União, Brasília, 2001. Disponível em:
BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. Pleno: Estado tem responsabilidade sobre morte de detento
em prisão. Canal Oficial do STF. Brasília: YouTube, 2016b. Disponível
em:
BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. RE 179147. Rel. Min. Carlos Veloso. DJ.
12.12.1997. Diário de Justiça
Eletrônico, 1997. Disponível em:
BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. RE 603626 MS. Rel. Min. Celso de Mello, DJ 15/05/2012. Diário de Justiça Eletrônico,
Brasília, 2012. Disponível em:
BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. Pesquisa de jurisprudência. Diário de Justiça Eletrônico.
Brasília, 2017. Disponível em:
BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 677139 PR Rel. Min. Gilmar
Mendes, julgamento dia 22.10.2015. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 2015.
Disponível em:
CAHALI,
Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 4ª. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2012.
CAVALCANTI,
Amaro. Responsabilidade civil do Estado. Rio de Janeiro: Borsoi, 1956.
CLARK,
Giovanni; CARVALHO, A. R. W.; SOUZA, S. L. S. E. A responsabilidade civil do
Estado por Intervenção no domínio econômico. In: FARIA, Edimur
Ferreira de (Org.). Responsabilidade
civil do Estado no ordenamento jurídico e nas jurisprudências atuais. Belo Horizonte: Del Rey, 2014.
Código
Napoleônico, artigo 1.382. apud. GONÇALVES, Carlos
Roberto, Responsabilidade Civil, 15ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2014.
COUCEIRO,
Júlio César da Silveira. Princípio da separação de poderes em corrente
tripartite. Rio Grande: Revista âmbito Jurídico, 2016. Disponível em:
DALARI,
Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 2ª. ed. São Paulo: Saraiva,
1998.
DIAS,
José de Aguiar. Da Responsabilidade Civil. 9ª. Ed., Rio de Janeiro:
Forense, 1994 v. 1
DI
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 27ª. ed. São
Paulo: Atlas, 2014.DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Responsabilidade do Estado
pela função jurisdicional. Belo
Horizonte: Del Rey, 2004.
ESTEVES,
Júlio César dos Santos. Responsabilidade civil do Estado por ato
Legislativo. Belo Horizonte: Del
Rey, 2003.
FARIA,
Edimur Ferreira de. Curso de direito administrativo positivo. 8ª. ed. Belo
Horizonte: Fórum, 2015.
FILHO,
Sergio Cavalieri, Programa de Responsabilidade Civil, 2ª ed.,, São
Paulo: Malheiros, 2000.
FLORENZANO,
Vicenzo Demetrio. Crise dos Precatórios. 25 anos de grave violação a
direitos humanos e teste de estresse para as instituições do Estado Republicano
e Democrático de Direito. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/50/200/ril_v50_n200_p271.pdf
Acesso em 27.1.2024.
GAGLIANO,
Pablo Stolze, Novo Curso do Direito Civil, volume 3: responsabilidade civil/
Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – 13 ed. rev. e atual. – São
Paulo, Saraiva, 2015.
GUIMARÃES,
Deocleciano Torrieri. Culpa. In: GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri.
Dicionário Técnico Jurídico. 12ª. ed.
São Paulo: Ridell, 2009.
HEITOR,
Ivone Susana Cortesão. Livro quinto Ordenações Afonsinas. Coimbra: IHTIFLC,
2016. Disponível em:
HOBBES,
Thomas. Leviatã ou, Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil.
Tradução de João Paulo Monteiro e Maria
Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: DHnet, 2016. Disponível em:
KFOURI,
Gustavo Swain. Formação e Evolução do Instituto da Responsabilidade
Patrimonial Extracontratual do Estado. Revista Direitos Fundamentais &
Democracia. Disponível em O http://revisaeletronicardfd.unibrasil.com.br.
Acesso em 28.1.2024.
MAZEAUD,
Henri; TUNC, André. Traité théorique et pratique de la Responsabilité
Civile: délictuelle et contractuelle. Paris: Montchrestien, 1957.
MEIRELLES,
Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 37ª. ed. São Paulo: Malheiros,
2010.
MEIRELLES,
Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 30ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2005.
MELLO,
Celso Antônio Banceira de. Curso de direito administrativo. 32ª. ed. São
Paulo: Malheiros, 2014.
MENDES,
Gilmar Ferreira. Os Direitos Fundamentais e seus múltiplos significados na ordem
constitucional. Revista Jurídica da Presidência, Brasília, 1999. Disponível
em:
SÃO
PAULO. Prefeitura de São Paulo. Precatórios. Secretaria de negócios
jurídicos, 2015. Disponível em:
NASCIMENTO,
Tupinambá Miguel Castro do. Responsabilidade civil do Estado. Rio de Janeiro:
Aide, 1995.
RESTREPO,
Ricardo Sanín. Teoría crítica constitucional: rescatando la democracia del
liberalismo. Quito, Equador: RisperGraf, 2011.
SALIM,
Adib Pereira Netto. A teoria do Risco Criado e a Responsabilidade objetiva
do empregador em acidentes de trabalho. Disponível em: https://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_71/Adib_Salim.pdf
Acesso em 27.1.2024.
SCHREIBER,
Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros
da reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007.
SHEMOT.
In: Torah. Estados Unidos da América: Cabad, 2016.
Disponível em:
SILVA,
Carlos Brandão Idelfonso. Objetivação da responsabilidade civil no Direito
brasileiro: Verdade ou mito? 2012. 141f. Dissertação (Mestrado) - Programa
de Pós-Graduação em Direito. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
Belo Horizonte, 2012.
SILVA,
José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo:
Malheiros Editores, 2001.
STOCO,
Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, 10ª ed, São Paulo: Saraiva:
2014.
TAVARES
DA SILVA, Regina Beatriz. Novo código civil comentado. In: Ricardo Fiúza
(Coord.) São Paulo: Saraiva, 2002.
VAZ,
Caroline. Revisitando a Responsabilidade Civil: aspectos relevantes da
antiguidade à contemporaneidade pandêmica. Disponível em: https://www.revistadomprs.org.br/index.php/amprs/article/view/190/80 Acesso
em 28.1.2024.
Notas:
[1]
Responsabilidade direta há, portanto, os ditames constitucionais alcançam:
Autarquias e fundações públicas de direito público; Empresas públicas e
sociedades de economia mista quando prestarem serviço público; Pessoas privadas
que prestam serviço público por delegação do Estado.
[2]
O direito natural não envolve mais um conjunto de deveres estabelecidos pela
lei natural, e, existem, na perspectiva de Rousseau, dois direitos naturais: a
vida e a liberdade, frequentemente mobilizados contra uma tirania que pode se
estabelecer em mais de um registro e sob mais de uma forma: como tirania
paterna, como tirania política e como tirania colonial. Consequentemente, em um
primeiro momento operamos no registro da antropologia e percebemos que, embora
no puro estado de natureza os homens não tenham desenvolvidos as faculdades que
possibilitam o conhecimento da lei natural, ela opera imediatamente pelas
paixões naturais, sem ter a necessidade de ser mediada por qualquer faculdade
adquirida.
[3]
Em "Política", o filósofo grego ocupou-se em descrever as mais
variadas formas de convivência humana sob um governo comum. Mais do que isso,
ele também tenta responder a inúmeras indagações: quais formas de governo são
as melhores? Por que ocorrem as revoluções? O que fazer para evitá-las? Que
papel deve exercer a educação na melhoria dos cidadãos? Quais as
características físicas e sociais de uma cidade ideal? Dentre as três formas de
governo, Aristóteles admite que a monarquia e a aristocracia podem ser as
melhores. Mas, para que isso aconteça, é preciso que, no comando do regime,
exista um homem excepcionalmente sábio e justo, no primeiro caso, ou um grupo
deles, no segundo. Como essa situação é incomum, a forma mais indicada de
governo é a politia: mesmo que a cidade não possa contar com uns poucos
homens de valor excepcional, é razoável que ela conte com muitos capazes de
governar e de ser governados, alternadamente. Para evitar abusos, a politia
conta com leis escritas a ser seguidas (daí ela também ser chamada de “governo
constitucional”). Ou seja: a forma preferida por Aristóteles não está assim tão
longe do modelo formal de democracia que temos hoje. O primeiro poder apontado
por Aristóteles é o deliberativo. Assim como o nome sugere, este poder
constitui na deliberação sobre os negócios do Estado, e corresponde ao poder
Legislativo. Nesta categoria é notada a autonomia das Assembleias nas decisões
tocantes a paz ou guerra; ou no estabelecimento de sanções para condutas
criminosas. O segundo poder apontado corresponde ao Executivo. É dito
compreender “todas as magistraturas ou poderes constituídos, isto é, aqueles de
que o Estado precisa para agir, suas atribuições e a maneira de satisfazê-las”.
Para Aristóteles, este poder requer a criação de magistraturas que o deverão
exercer exaustivamente para o cumprimento de funções essenciais para o bom
funcionamento da sociedade, tais como abastecimento de alimentos e
administração de edifícios públicos e privados. O terceiro poder se refere aos
cargos de jurisdição, isto é, determina o alcance da atuação de juízes de
acordo com seus referentes campos. Em suma, a concepção aristotélica no
tangente a separação de poderes é crucial para que os interesses sociais sejam
atendidos, em detrimento dos interesses de um único governante. Afirma que a política
é o bem mais importante em uma sociedade, e este se encontra atrelado de
maneira inseparável da ideia de justiça, esta que é alcançada por meio de
tratamento igual entre indivíduos em situação de igualdade.
[4]
Responsabilidade do Estado é a obrigação dos órgãos públicos e demais entes
estatais de reparar os danos que seus agentes causarem no exercício da função
pública. Pode ser objetiva – quando os atos praticados pelos agentes públicos
resultam em prejuízos ou danos a terceiros, mesmo sem culpa – ou subjetiva,
quando basta demonstrar o dano provocado pelo agente do Estado, e o nexo
causal.
[5]
No direito civil o dolo não tem importância, pois a culpa o abrange, logo, não
haverá distinção se o ato ilícito causado foi doloso ou não. Giovanna
Vistintini aponta que esses dois aspetos, estruturalmente não têm nada em
comum. De fato, há uma longa distância no ato pelo qual o agente procura
intencionalmente o resultado (dolo) e naquele que se dá por negligencia,
imprudência ou imperícia (culpa). Em sede de indenização, porém, as
consequências são idênticas.
[6]
Quanto à adoção do instituto da responsabilidade; vigorou em tal sistema, até
1947, a teoria da irresponsabilidade do Estado em relação ao dever de reparar
danos causados aos particulares. Era baseada no princípio “The King Can do
no Wrong” – o Rei não erra. Quem
respondia perante os tribunais pela reparação de danos causados aos
particulares era o funcionário, com a aplicação do princípio de
responsabilidade baseado no dever que cada patrão tem em relação a seu
funcionário, assim como no dever que este detém em relação ao patrimônio de
outrem.
[7]
O Código Civil brasileiro de 2002 moderniza, nesse contexto, trouxe melhor
perspectiva do Direito Civil a nível de codificação. E trouxe mecanismos
relevantes para a intervenção nos contratos, tendo em vista o princípio da
preponderância dos interesses sociais, sem a quebra de intangibilidade do
princípio da autonomia da vontade. E, Renan Lotufo ensinou in litteris:
"O Código francês, que deveria refletir os princípios da Revolução
(Liberdade, Fraternidade e Igualdade), focaliza dois outros valores
fundamentais: Propriedade e Contrato. Admite que a propriedade deve ser para
todos e que deve existir liberdade contratual para todos, entendida, como algo
inato a todo ser humano, eis que todo ser humano é livre para contratar como e
com quem quiser. Tal estrutura do Código fora extremamente criticada no curso
temporal, pois é exatamente a liberdade dada aos contratantes que levou o fraco
a ser submetido ao forte, de onde se chegou a célebre frase de Lacordaire:
"entre o fraco e o forte a liberdade escraviza e a lei liberta". In:
Da oportunidade da codificação civil. Artigo publicado na ed. n. 68, dezembro
de 2002. Revista do Advogado dedicada ao tema. Novo Código Civil. Aspectos
Relevantes
[8]
Ressalte-se que esta mudança de concepção da culpa (de psicológica a normativa)
foi criticada por alguns doutrinadores. Assim, René Demogue sustenta que a
culpa normativa, ao adotar o critério do bom pai de família objetivo, procedendo-se
à análise in abstracto da culpa, contraria a ideia de responsabilidade
subjetiva.22 Por outro lado, há quem sustente que a culpa apreciada in concreto
se revela mais apta a “incitar os indivíduos a se mostrarem mais prudentes”.
[9]
A "culpa judaica" entrou na literatura norte-americana há meio
século, e após dezenas de filmes de Woody Allen e Bernard Malamud, a idéia
evoca uma caricatura de auto-culpa neurótica; o pai judeu que, sessenta anos
depois, ainda acha que todos os fracassos do filho se devem ao fato de ele não
ter comprado a bicicleta que o garoto queria no seu sétimo aniversário; a mãe
judia que está convencida de que sua incapacidade de impressionar a esposa do
presidente da sinagoga marcou sua família como párias sociais por todas as
gerações; o rabino que acredita que todos os problemas do mundo são causados
pelos pecados que ele próprio cometeu. Uma visão egocêntrica, falha e
pessimista do universo.
[10]
A responsabilidade por omissão do Estado existe, mas deve ser levada em
consideração outra Teoria. Quando o ato que determinou a responsabilização for
uma ação do Estado, é usado a Teoria do risco administrativo (teoria objetiva),
por outro lado, no caso de omissão do Estado, a teoria utilizada é a da culpa
administrativa, ou seja, a teoria subjetiva.
[11]
Considera-se omissão específica e por isso deve-se utilizar a teoria objetiva.
Ou seja, havendo conduta (ou falta de conduta), dano e nexo causal, o Estado
deverá indenizar terceiro prejudicado.
[12]
Já o conceito de dano nuclear é: “O dano pessoal ou material produzido como
resultado direto ou indireto das propriedades radioativas, da sua combinação
com as propriedades tóxicas ou com outras características dos materiais
nucleares, que se encontrem em instalação nuclear, ou dela procedentes ou a ela
enviados”.
[13]
A culpa in eligendo ocorre quando a responsabilidade é atribuída a quem
escolheu mal aquele que praticou o ato, e, in vigilando, quando
consequente de sua falta de vigilância ou atenção, de que resultaram os fatos
motivadores dos danos e prejuízos. Mas se a pessoa é um servidor do governo, a
vítima só precisa provar que sofreu um dano e que esse dano foi originado pela
ação do funcionário. A vítima não precisa provar a culpa ou dolo do servidor
público. Ou seja, ele não precisa provar o que se passava pela cabeça do
servidor público. Ainda que tenha sido um mero acidente, o governo continua
responsável pelo dano causado por seu servidor. Ele é responsável pela
indenização, independente da culpa de seu servidor: dano e causalidade são suficientes.
[14]
A responsabilidade subsidiária tem caráter acessório ou suplementar. Há uma
ordem a ser observada para cobrar a dívida, na qual o devedor subsidiário só
pode ser acionado após a dívida não ter sido totalmente adimplida pelo devedor
principal. A responsabilidade subsidiária é quando uma empresa é responsável de
forma secundária pela dívida. Entretanto, só é possível acioná-la caso a
primeira não pague. O Reclamante não poderá cobrar da empresa que responde
subsidiariamente, sem que haja primeiro uma cobrança contra a outra empresa. No
Brasil, a delegação de serviços está regulamentada pela Lei 8.987/95, na qual
fica expresso que essas empresas prestam o serviço por sua conta e risco, e em
caso de danos assumem a responsabilidade objetiva de repará-los. Com base na
lei, o Estado responde por eventuais danos causados pelas concessionárias de
forma subsidiária. No Superior Tribunal de Justiça (STJ), são muitos os
processos em tramitação que discutem esses temas, tanto nos colegiados de
direito público quanto nos de direito privado. A obrigação de reparar danos,
decorrente da responsabilidade civil, surge nas mais diversas situações, como
atropelamentos em rodovias cedidas, acidentes na rede de transmissão elétrica e
até mesmo a falta de peixes em um rio em razão da construção de uma usina
hidrelétrica. Dependendo da composição das demandas, elas podem ser julgadas no
âmbito da Primeira Seção do STJ (Primeira e Segunda Turmas, especializadas em
direito público) ou da Segunda Seção (Terceira e Quarta Turmas, especializadas
em direito privado). A definição da competência interna para o julgamento das
demandas relacionadas à delegação de serviços já foi tema de discussões no STJ.
Em 2002, ao analisar a responsabilidade das sociedades de economia mista nesses
casos, a Corte Especial definiu entendimento que é seguido pelo tribunal até
hoje.
[15]
Negligência, imprudência e imperícia são termos presentes em diversos cenários
jurídicos. De uma maneira geral, negligência é a omissão da conduta esperada
para uma determinada situação; imprudência é a ação sem cautela; e imperícia é
a ação equivocada por falta de técnica, de inaptidão. Verifica-se que
negligência é não fazer o que deveria ser feito, imprudência é fazer o que não
deveria ser feito e imperícia é fazer mal o que deveria ser feito corretamente.
[16]
A responsabilidade civil objetiva é aquela que acontece independentemente de
culpa ou dolo. Eis que, portanto, os elementos que devem estar presentes são os
três restantes: ato ilícito; nexo de causalidade; dano. Há diversas
justificativas para as leis adotarem a responsabilidade objetiva. Uma delas é a
teoria do risco da atividade: determinadas atividades expõem os demais membros
da sociedade a riscos, e quem se beneficia delas teria o dever de reparar os
danos causados, independentemente de culpa ou dolo.
[17]
As excludentes de nexo de causalidade: fato exclusivo da vítima ou de terceiro,
caso fortuito e força maior. Para essas excludentes, referencia-se o art. 393,
do CC: O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou
força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
[18]
Podemos definir a teoria do risco criado como aquela que sempre envolve
vantagem para agente ativo da relação jurídica relevante. Podemos assim dizer
que aquele que tira proveito da situação gravosa ou do prejuízo causado a
outrem tem o dever legar de reparação. A teoria do risco teve diversas
vertentes, destacando-se a do risco-proveito, a do risco profissional, a do
risco excepcional, a do risco integral e a do risco criado. Pela teoria do
risco-proveito, responsável é aquele que tira proveito; onde está o ganho, aí
reside o encargo- ubi emolumentum ibi onus. Caio Mário da Silva Pereira
sintetizou: aquele que, em razão de sua atividade ou profissão, cria um perigo,
está sujeito à reparação do dano que causar, salvo prova de haver adotado todas
as medidas idôneas a evitá-lo, [...] A teoria do risco criado importa em
ampliação do conceito do risco proveito. Aumenta os encargos do agente, é,
porém, mais equitativa para a vítima, que não tem de provar que o dano resultou
de uma vantagem ou de um benefício obtido pelo causador do dano. In: PEREIRA,
Caio Mário da Silva. Responsabilidade civil. 3. ed. Rio de Janeiro:
Forense,1992, p. 24.
[19]
A teoria do risco integral constitui uma modalidade extremada da teoria do
risco em que o nexo causal é fortalecido de modo a não ser rompido pelo
implemento das causas que normalmente o abalariam (v.g. culpa da vítima; fato
de terceiro, força maior). A teoria do risco integral originalmente legitimou a
responsabilidade objetiva e proclama a reparação do dano mesmo involuntário, responsabilizando-se
o agente por todo ato do qual fosse a causa material, excetuando-se apenas os
fatos exteriores ao homem. Trata-se de uma construção jurisprudencial a ser
aplicada em casos excepcionais, na medida em que a sua adoção representará a imposição
de uma obrigação objetiva de indenizar, mesmo que as circunstâncias evidenciem
a existência de uma excludente do nexo causal.
[20]
A teoria do risco integral constitui uma modalidade extremada da teoria do
risco em que o nexo causal é fortalecido de modo a não ser rompido pelo
implemento das causas que normalmente o abalariam (v.g. culpa da vítima; fato
de terceiro, força maior). A teoria do risco integral originalmente legitimou a
responsabilidade objetiva e proclama a reparação do dano mesmo involuntário,
responsabilizando-se o agente por todo ato do qual fosse a causa material,
excetuando-se apenas os fatos exteriores ao homem. Trata-se de uma construção
jurisprudencial a ser aplicada em casos excepcionais, na medida em que a sua
adoção representará a imposição de uma obrigação objetiva de indenizar, mesmo
que as circunstâncias evidenciem a existência de uma excludente do nexo causal.
[21]
Na responsabilidade extracontratual o agente infringe a um dever legal, porque
não existe nenhum vínculo jurídico (relação jurídica) entre a vítima e o agente
antes do evento, enquanto na responsabilidade contratual o agente ofende a um
dever contratual - é inadimplente em relação a uma obrigação contratada. Já, a
responsabilidade extracontratual ou aquiliana é aquela que deriva de um ilícito
extracontratual, isto é, da prática de um ato ilícito por pessoa capaz ou
incapaz, consoante o art. l56 do CC, não havendo vínculo anterior entre as
partes, por não estarem ligados por uma relação obrigacional ou contratual. A
utilidade da distinção da responsabilidade contratual ou extracontratual está
precisamente na facilidade de se imputar a responsabilidade no primeiro caso:
havendo o descumprimento de cláusula contratual, presume-se a culpa pelo
inadimplemento, impondo-se, por conseguinte, a reparação do dano causado. O
inadimplente apenas se desincumbirá da obrigação se provar a existência de
excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou
força maior14, alguma excludente contratual) – invertendo-se, por conseguinte,
o ônus da prova.
[22]
A ideia de reserva do possível é frequentemente associada à alegação de
insuficiência de recursos apresentada pelo Estado como forma de se eximir do
cumprimento de suas obrigações no campo dos direitos sociais. A invocação da
cláusula da reserva do possível serviria como uma escusa, utilizada de forma
genérica pelos entes estatais, para não concretizar os direitos sociais. A
expressão “reserva do possível” (Vorbehalt des Möglichen) foi utilizada
pela primeira vez pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão, em julgamento
proferido em 18 de julho de 1972. Trata-se da decisão BVerfGE3 33, 303 (numerus
clausus), na qual se analisou a constitucionalidade, em controle concreto,
de normas de direito estadual que regulamentavam a admissão aos cursos
superiores de medicina nas universidades de Hamburgo e da Baviera nos anos de
1969 e 1970. Em razão do exaurimento da capacidade de ensino dos cursos de
medicina, foram estabelecidas limitações absolutas de admissão (numerus
clausus). BVerfGE é a abreviação de Entscheidungen
des Bundesverfassungsgerichts (decisões do Tribunal Constitucional
Federal).