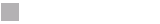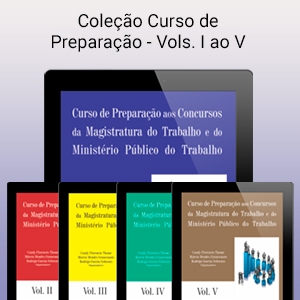Civilização & barbárie no direito internacional
O entendimento dos conceitos e princípios articulados no direito internacional revelam práticas ideológicas, sociológicas e culturais e o discurso jurídico internacionalista não escapou dessa tendência. E, mesmo nas suas origens no século XVI, até o definitivo estabelecimento como disciplina autônoma no século XIX, o Direito Internacional usou desses conceitos para pautar um direito hierarquizado e pautado na retórica universalista guiada por padrões dominantes e europeus. Portanto, o conceito de civilização e de barbárie passaram por longa trajetória histórica, social, cultural e jurídica.
A
compreensão de conceitos articulados no discurso nos permite desvendar
ideologias e práticas de dominação. No discurso jurídico internacionalista, os
complexos conceitos de civilização e barbárie cumpriram a função de manipular
como os não europeus eram retratados e a partir de tal representação,
estabeleceu-se estratégias de subjugação.
A
partir do lançamento de suas bases, no
século XVI, até o seu definitivo estabelecimento como disciplina autônoma no
século XIX, o direito internacional utilizou desses conceitos para articular um
direito hierarquizado, mas ocultado pela retórica universalista. Na presente
pesquisa, utiliza-se do instrumental metodológico da “história dos conceitos”,
de Reinhart Koselleck, como chave de compreensão dos conceitos de “civilizado”
e “bárbaro” no âmbito do discurso jurídico internacionalista, do século XVI ao
XIX.
Preocupa-se,
então, historicizar os conceitos, reconstruindo suas gêneses, para alcançar
todas as possibilidades semânticas que o conceito pôde assumir dentro do
discurso. Assim, foi formulada a gênese do conceito de ?bárbaro? e investigado
sua articulação com o nascente direito das gentes no século XVI.
Em
seguida, o conceito de “civilizado” foi abordado, bem como a manipulação do
mesmo nos textos jurídicos da transição do século XVI ao XVII. Enfim,
analisou-se a ressignificação dos conceitos acarretada pelo aparecimento da
palavra "civilização" no século XVIII, e a nova configuração do
discurso jurídico internacionalista.
O
manejo dos conceitos pela doutrina do direito internacional concebia um direito
hierarquizado, em que os povos não europeus eram colocados em uma relação
assimétrica, que possibilitava sua subjugação através de retórica jurídica.
Os
conceitos cujas palavras são perenes desde sempre na história do direito
europeu. E, uma continuidade terminológica existem contundentes rupturas na sua
semântica. Os conceitos se interagem em
campos semânticos diferentes e sofrem influências sociais, ideológicas e
políticas. Por isso, os conceitos são sempre polissêmicos e, a cada camada de
significação estão inscritas no próprio conceito, a forma que podem ser
resgatadas em momentos posteriores.
Lembremos
que de todos os ramos da linguística, a semântica é devotada ao estudo do
significado, sendo relevante para a história dos conceitos e, para definição
dos significados conforme o acordo linguístico de uma comunidade e para a
comunicação.
A
palavra "bárbaro" foi se adaptando às contingências próprias em que
viviam seus interlocutores. E, a partir do contexto helênico até o seu uso
pré-moderno, tal abordagem pretendeu dar maior destaque ao conceito, identificando-se
seus elementos de perpetuação, independente das representações peculiares de
cada contexto histórico.
Foram
diversas as perspectivas do conceito de bárbaro, seja no contexto grego, romano
e medieval. E a continuidade e ruptura dessas significações nons permite
desvendar a estrutura conceitual de bárbaro.
De
fato, a palavra bárbaro é cunhada a partir de onomatopeia, para designar
aqueles que não falavam grego, mas apenas balbuciavam. Homero utilizou palavra
similar barbarophônôn, para dizer não grego. Ponderou Antoine Prost que
o sentido das palavras não fica imune as alterações do tempo e, de fato, o
conteúdo da palavra bárbaro ainda na comunidade grega foi sendo alterado, e
adquiriu sentido depreciativo que marcara de forma permanente sendo um sentido
mais descritivo do que valorativo.
Com o
reconhecimento do helenismo de uma característica propriamente grega que então
agregaria aos gregos como uma unidade coletiva, através da língua e cultura
comum, mas que jamais gozaram de unidade política e quiçá geográfica.
O
principal catalisador da transformação do conteúdo do vocábulo bárbaro se deve
às Guerras Greco-Persas[1], do século V a.C., pois
conferiu ao povo helênico uma consciência de unidade em oposição à grande
diversidade da região mediterrânea, através da frequente polarização vinda do
conflito. Então a dicotomia heleno/ bárbaro assumiu seu jaez mais pejorativo dentro
do mundo helênico. E, a rivalidade fora convertida em instrumento de afirmação
de identidade, a partir de papéis antagônicos e, assim, além de uma inimizade
meramente bélica, encrustada dentro de conflito cultural e político.
Heródoto
aludiu a essa guerra como se fosse o embate entre a liberdade e a democracia
grega contra o clássico despotismo dos povos asiáticos, notadamente, os persas.
Essa dicotomia foi projetada para aludir a oposição da Europa versus
Ásia ou, ainda, Ocidente versus Oriente que fora revigorada pela
modernidade europeia.
No
início não havia o sentido depreciativo mas depois vem a adquirir, já que
portava consigo uma assimetria, em oposição unicamente ao povo helênico e, que,
por sua vez recebera um nome própria.
Desde
já estabeleceu uma divisão universal e exclusiva. E, ainda que utilizasse o
termo indistintamente, Platão foi o primeiro a tecer uma crítica severa, do
ponto de vista lógico-ontológico, a respeito dessa divisão universal entre os
gregos e todos os demais povos, e o critério para tanto.
A
origem etimológica da palavra "bárbaro" lastreada no critério
linguístico de diferenciação já prenunciava tal assimetria, posto que já exclui
os demais. Se os estrangeiros eram os que balbuciavam ao falar, já indicava
falta de habilidade em suar a linguagem, o que para os gregos era associado a
falta de inteligência e razão. Assim indicava-se uma inferioridade intelectual.
Agrava-se
ainda porque entre a política e o logos, onde existe uma estreita relação, um
vínculo recíproco. A arte política é essencialmente exercício da linguagem, e o
logos, na origem, toma consciência de si mesmo, de suas regras, de sua
eficácia, por meio, de sua função política (In: Vernant, 2002).
Realmente,
a linguagem, a razão e política imbricam-se e, nessa acepção o
"bárbaro" ao não dominar a linguagem, na verdade, o bárbaro não
dominava a língua grega, mas sua própria língua, seria incapaz de desenvolver a
retórica e, portanto, invariavelmente alheio à política. Além de ser
geograficamente fora da polis, o bárbaro se revelava ser inábil a desenvolver
uma atitude política, em antônimo de civis e polis.
Da
incapacidade em relação à política
sucedia a imagem do ‘bárbaro’ como dominado, como súdito, sempre
sob autoridade de um déspota.
Inversamente, a figura do grego representava
o cidadão da polis, livre e racional, que participa efetivamente do governo. Aristóteles, ao analisar as
diferentes formas de governo, enfatiza:
“Encontramos
exemplos de outra espécie de monarquia
junto a alguns bárbaros. Os reis têm ali algum poder que se aproxima do
despotismo, mas é legítimo e
hereditário. Tendo os bárbaros
naturalmente a alma mais servil do que os dos gregos e os asiáticos, eles suportam mais do
que os europeus, sem murmúrios, que
sejam governados pelos senhores”.
(ARISTÓTELES, 2002).
Percebe-se
no texto citado de Aristóteles a naturalização do estado de escravidão e de
submissão do bárbaro, restando evidente um determinismo inclusive genético e
étnico, tornar-se bárbaro significa ser servil por natureza. A relevância da teoria aristotélica conferida
à política, através desta é que o homem
livre se desenvolve com plenitude afinal o homem é, por natureza uma animal
político.
Há
distinção para Aristóteles o ser politicamente servil e, o pior, o naturalmente
servil. O que desemboca na doutrina da escravidão natural, pela qual se cria uma categoria concreta de homens,
aqueles que nasceram para serem escravos, dividindo a humanidade naqueles que
servem para comandar e, os outros que só sevem para obedecer.
Em Aristóteles,
ao tratar, tanto da servidão natural do
‘bárbaro’, quanto do ‘escravo’, indica uma convergência das duas figuras, ou seja, o ‘bárbaro’ é escravo,
por natureza. Não é fortuito, portanto,
que Aristóteles retome a afirmação do poeta Hesíodo de que “os gregos tinham, de direito, poder sobre os
bárbaros, como se, na natureza, bárbaros
e escravos se confundissem. ” (ARISTÓTELES, 2002).
É o
argumento intelectual que prepondera; do mesmo modo que os ‘bárbaros’, o escravo carece de razão
(ARISTÓTELES, 2002) e isso é o que
motiva ser comandado, por um homem, senhor da razão; só assim ele cumprirá sua função de forma plena.
O escravo natural, portanto, será um
homem cujo intelecto não alcançou o controle
necessário sobre suas paixões, e é essa
dependência do homem em relação aos seus desejos, paixões e
instintos que diferencia o ‘bárbaro’ e o
escravo, do homem grego.
A
escravidão civil igualmente reconhecida por Aristóteles e, diversa da
escravidão natural. Pois o primeiro sobre por causas que nada tem a ver com sua
natureza pois estava privado de suas liberdades civis.
A
representação do bárbaro quanto a imagem que o próprio grego fazia de si, era
idealizadas e, todos os epítetos negativos e pejorativos atribuídos ao bárbaro,
tido como grosseiro, rude, obtuso, inábil, déspota e, etc. Os bárbaros eram
representados de forma caricatural pelo teatro grego.
Por
isso que ‘bárbaro’ apresentará conteúdos
diferentes ao longo do tempo, sucessivamente oposto ao ponto de vista hegemônico de cada contexto que
promove a articulação do conceito. Esse
aspecto apresenta-se como constante nas representações que o conceito suporta posteriormente, em
conjunturas diversas e desvinculados de
sua origem.
Quer
dizer, é um conceito historicamente
transmissível, adaptável ao contexto
concreto em que é utilizado, que, no entanto, mantém sua estrutura etnocêntrica e assimétrica, independentemente
do conteúdo que o preencher.
De
modo simples, o etnocentrismo pode ser definido como uma visão de mundo fundamentada rigidamente nos valores e
modelos de uma dada cultura; por ele, o
indivíduo julga e atribui valor à cultura do outro a partir de sua própria cultura. Tal situação dá margem a vários
equívocos, preconceitos e hierarquias,
que levam o indivíduo a considerar sua cultura a melhor ou superior.
Nesse sentido, a diferença cultural
percebida rapidamente se transforma em hierarquia.”
É
preciso recordar que a função do conceito, então, é fabricar esse exterior, a
partir do ponto de vista interno. Há sempre um centro que determinará
correlativamente o conteúdo do periférico. E, o conteúdo desse, considerado
fora acompanha a determinação do que é tido como "dentro", de forma
que, cada vez que é alterado, aquele também será, constituindo-se antônimo
dentro novo "dentro".
O
conceito apresentará uma pluralidade de
significados, por vezes divergentes e sobrepostos, mas sempre acomodados ao contexto político da
trajetória do povo romano (Reino, República e Império),de qualquer forma, é
possível traçar algumas linhas gerais e
constantes da imagem que o ‘bárbaro’ assumira para os romanos.
No
mundo grego, a característica mais notável do bárbaro era a ausência de razão e
a inabilidade em articular-se, como consagrado no sentido dado por Aristóteles,
no âmbito romano, preponderando a imagem de crueldade, ferocidade e
bestialidade, o célebre furor barbaricus.
Tanto
que o substantivo barbárie, barbaria derivada do agir como bárbaro e
significando inumanidade, crueldade humana e não aparece até o período do Baixo
Império Romano.
Embora
Cícero questione a classificação dos ramos como bárbaros, ele mesmo não deixou
de ser influenciado pelos escritores gregos,, de forma a reproduzir o sentido
de inferioridade intelectual antecedente.
Aliás,
quanto mais aumentava o expansionismo romano, mais era nutrida a imagem do
bárbaro como violento, cruel, impiedoso, feroz em combate e, principalmente,
uma ameaça à integridade da sociedade romana.
Pontuada pelos relatos de ataques bárbaros, seguidos pelo rigor das
vitórias imperiais, o desempenhou relevante papel nas ideologias imperialistas.
O
conceito de ‘bárbaro’ funcionava como uma eficaz ferramenta política, manobrada pelo Império de forma a
manter o expansionismo e todo sistema
romano dependente dele; o que empreendia através de um perverso estratagema: a desumanização do
‘outro’ legitimava o seu extermínio
(RODRÍGUEZ GERVÁZ, 2008).
Portanto,
a imagem era aplicada a todos os
inimigos indistintamente, mas
contingencialmente, dependendo qual era o oponente da temporada, fossem eles celtas, francos, godos, ou
sarracenos; os hunos, por exemplo, foram
encarnados no arquétipo do ‘bárbaro’ quando o grupo parecia constituir-se uma ameaça (GUZMÁN ARMARIO, 2003): nômades, sem pátria e leis, os hunos eram
retratados pelos romanos como carecendo
totalmente de moral e piedade. Nesse sentido é
construída a narrativa do historiador romano Amiano Marcelino
(DROIT, 2009), e até o fim do Império
não faltaram relatos realçando a
crueldade dos invasores ‘bárbaros’.
Assim
como na representação grega, tratava-se
de uma imagem estereotipada, que correspondia menos a realidade dos povos categorizados como tais
do que o inverso do ideal romano
(FONTANA, 2000); de qualquer forma, “não importa que a realidade fosse radicalmente distinta,
o certo é que através destas abordagens
estabelece-se um programa ideológico sobre o outro” (RODRÍGUEZ GERVÁZ, 2008). O
que agregava os romanos, como um todo homogêneo em contraposição ao ‘bárbaro’,
já não era a cultura, mas sua
organização político-jurídica.
Durante
o Império, não tanto a gens que importava, afinal sob o domínio romano encontravam-se as mais
diversas, mas o status civitatis, isto é, a qualidade própria de cidadão romano
(DAL RI JUNIOR; DAL RI, 2013), o que
fazia com que os indivíduos acumulassem uma
identidade étnica, com a cidadania romana.
O
centro, que definiria o espelho
‘bárbaro’, então passa a ser a própria organização político-jurídica romana.
Por consequência, uma nova linha de fronteira toma forma: a cidadania romana.
A
respeito do espaço bárbaro foi demarcado no mundo grego, dissolve-se pois as
cidades romanas eram habitadas por bárbaros migrantes ou peregrini, aos
quais, em regra, não era concedida a cidadania romana. No mesmo locus
conviviam, os cidadãos romanos e os bárbaros. Mas, existiu uma fronteira, os limes,
para além da qual encontrava-se o, não obstante, além de instável era
permeável.
A
hermética comunidade grega oikuméne, acessível apenas por acidente de
nascimento, a sociedade romana consubstanciada na civitas, era de certa forma,
mais aberta, pois caracterizada por uma política de concessão de cidadania
baseada no viver de acordo com o direito o ius civile, e os valores
romanos.
Em
resumo, no mundo romano em duas figuras simultâneas e diferentes, cada uma entrava em cena conforme as necessidades do
Império.
Por um
lado, existia o inimigo combatente –
hostis -, com o estereotipo violento, cruel e sanguinário, que uma constituía uma
constante ameaça à ordem cívica romana,
legitimando o combate e expansão dos domínios romanos.
Por outro lado, paralelamente, os estrangeiros – peregrini
-, eram cooptados pela civitas, seja simplesmente para participar da vida da civitas
pagando impostos, seja por necessidades
militares ou agrícolas (RODRÍGUEZ GERVÁZ,
2008); isso reforçava a imagem de supremacia do modo de vida romano – romanitas -, como
se aqueles ‘bárbaros’, antes cruéis,
fossem ‘convertidos’ em vizinhos pacíficos e pagadores de impostos.
Vigorava
um ideal imperialista de assimilação
progressiva, em que o universo romano, aos poucos, ia ‘domesticando’ outros povos e
englobando-os em sua estrutura política e jurídica, apesar das disparidades
linguísticas e étnicas.
Mas,
não quer afirmar que a representação grega do bárbaro seja substituída pela
romana, em verdade, as diversas imagens sobrepõem-se formando camadas de
significados, os quais preponderam conforme o contexto. Subsiste a noção de
inferioridade intelectual e o da servidão natural, além a imagem de violento e
inumano, consagrado pelo aparecimento do substantivo barbárie.
A acepção romana, além disso, inova quando
possibilita a conversão do ‘bárbaro’;
sentido que, não pelos mesmos motivos, é mantido na representação de ‘bárbaro’
na Idade Média.
Antes
do fim do Império Romano, o cristianismo converte-se de religião perseguida e, até mesmo, considerada
‘bárbara’ , em religião oficial do Império; o que aconteceu gradualmente após a promulgação
do Édito de Milão, de 313 d.C., que
possibilitou a cristianização do Império, de modo a tornar a religião um dos componentes da identidade
romana – e, em seguida, da europeia.
A
queda do Império em 476 d.C., toda a estrutura política, social, jurídica,
militar e social do Império romano desmorona e a paisagem europeia passa a ser
transformada pela cultura e organização dos bárbaros. Perde sentido a oposição
romanitas e bárbaros porque já não
existe mais o centro manipulador do conceito.
Porém,
a instituição religiosa mantém-se, e fortalece-se vindo a exercer hegemonia em
todos os âmbitos da vida medieval. E, tais Estados encontram-se estreitamente
ligados entre si por uma só religião, o cristianismo.
Foi a
cristandade, principalmente através da coesão política proporcionada pela
institucionalidade da Igreja que se constituirá o elemento agregador desse novo
contexto da Idade Média. E, assim, muda-se a semântica de bárbaro e, a Christianitas
assumiu o centro, tornando-se a referência para a determinação da figura do
bárbaro.
Seguindo
as Epístolas do apóstolo Paulo, são
negadas todas as classificações e distinções que separam a humanidade, são anuladas todas as
singularidades: “Já não há judeu nem negro;
nem escravo nem livre; nem homem nem mulher: pois todos vós sois um em Cristo Jesus”(DROIT, 2009; MÁTTEI,
2002).
Da
mesma forma percebe Koselleck, “Todas as classificações e negações de pessoas, povos, classes, sexos e
religiões são superadas pelos remidos em
Cristo.” (2006). Porém, tão logo é instituída a Igreja toma forma a divisão entre cristãos e os não
cristãos, sob a designação comum de
pagãos.
Nos
últimos séculos do Império Romano, quando a oposição existente entre romanitas
e bárbaro ainda era intensa, prontamente, já se encontravam correlações que
colocavam bárbaro e pagão em igualdade, nesse sentido, Prudêncio, no século IV,
afirmava que o bárbaro está para o romano, como pagão está para o cristão.
Nesse
sentido, sugeria-se que a solução para as invasões dos bárbaros estava na
cristianização dos mesmos, conforme defendia Orósio, a esperança era reconciliar
as diferentes culturas por meio de fé comum, que foi o que ocorreu, ainda que o
Império não tenha se reerguido, durante a Era Patrística e, implicou na distribuição geográfica da religião
cristã.
No
século VI, Gregório de Tours empregava a palavra bárbaro como sinônimo
de pagão e, ainda, não a usava para referir-se ao seu grupo étnico, os francos,
considerado bárbaro pela categorização romana, rompendo com o uso romano do
conceito.
O fim
do século VII estava realizando-se a transição, na representação do bárbaro que
perpassou por toda Idade Média. Com a mudança do centro de referência, de um
critério político-jurídico para um religioso, a romanitas dando lugar para a
cristandade, alterava profundamente o conteúdo de bárbaro que assumia ser uma
figura inversa do cristão.
Não se
tratava meramente de não crer em Cristo, na verdade, esse fato, implicava em não estar agindo de acordo
com a verdadeira razão; sentido esse que
se aproximava da concepção grega, implicando em uma continuidade na conotação negativa do termo,
conforme enfatizado por Koselleck:
“Não
resta dúvida que, na literatura polêmica da teologia, os adversários são discriminados,
com o uso de uma larga série de juízos
negativos. Eles são os infidelis,
impii, increduli, peridi, inimici Dei [infiéis, ímpios, incrédulos, pérfidos,
inimigos de Deus], enriquecidos por
mágicas determinações diabólicas, são
também de cor negra, de modo que matar
esses pagãos, como cães, seria agradar a Deus”. (2006).
Diferentemente
da sociedade grega que era caracterizada por ser fechada, no sentido que não
havia como bárbaro tornar-se grego, a cristandade ia além de aberto, pois a
todos que quisessem integrá-la,
patrocinava a conversão, através do batismo.
Jacques
Le Goff problematiza essa questão, indicando que a Cristandade não era unicamente aberta. Embora a doutrina
religiosa, fosse aberta, e proclamasse sua
vocação universal, havia uma tendência entre seus membros de fechar-se
no exclusivismo do povo eleito, herança
do Antigo Testamento. Esse comportamento
ambíguo, era refletivo nas relações com os não-cristãos (LE GOFF, 2005).
Existia
a Respublica Christiana , uma
comunidade potencialmente universal, resultante da agregação de pequenos Estados feudais sob a
autoridade do poder temporal pontífice
da Igreja (DAL RI JUNIOR, 2004) e cujo
território era possível de ser determinado – terrae christianorum -, e
por outro lado, notadamente fora dos
limites geográficos europeus, existiam
os ‘bárbaros’, infiéis.
A
oposição entre o mundo cristão e o ‘bárbaro’ mantém-se durante toda a Idade Média, adquirindo facetas
múltiplas, conforme o contexto; por
exemplo, durante as cruzadas, cogitava-se em uma luta entre Christianitas e as barbares
nationes¸ em um sentido eminentemente
religioso; em simultâneo, porém, o Império Turco Otomano era representado pela imagem do furor barbaricus,
no mesmo sentido de crueldade conferido
pelos romanos.
A
atitude de negar a alteridade marcou o encontro entre europeus e os povos
americanos, e inclusive, os primeiros textos do direito internacional. As referências
aos habitantes do Novo Mundo, notadamente nos escritos do teólogo dominicano
Franscisco de Vitória, considerado o fundador do direito das gentes
Como
demonstra Enrique Dussel, que com desenvoltura sustenta o adiantamento do início da Modernidade para o ano de 1492,
quando se inaugura a relação dialética da
Europa com o não europeu, momento em que a Europa estabelece-se como ‘centro’ de uma História Mundial, em relação
às periferias: “O ano de 1492 é a data
do ‘nascimento’ da Modernidade; [...] nasceu quando a Europa pôde confrontar
com seu ‘Outro’ e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo: quando pôde se definir como um ‘ego’ descobridor,
conquistador, colonizador da Alteridade constitutiva
da própria Modernidade. De qualquer maneira esse Outro não foi ‘descoberto’ como Outro, mas foi ‘en-comberto’
como o ‘si-mesmo’ que a Europa já era
desde sempre. De maneira que 1492 será o momento do ‘nascimento’ da Modernidade como conceito, o
momento concreto da ‘origem’ de um
‘mito’ de violência sacrifical muito particular, e, ao mesmo tempo, um processo de ‘en-cobrimento’ do não europeu.”
O novo
continente tenha recebido a antonomásia
de “Novo Mundo” com obviedade que o era
somente para os europeus. Sua existência implicava em certas dificuldades, pois suscitava
questões que ameaçavam toda “concepção
tradicional de mundo, em que a geografia, a religião e a teologia estavam unidas com estreitos vínculos
e nenhuma delas poderia ser modifica sem
colocar em risco a coerência do conjunto.
Desafios
se apresentaram ao Velho Mundo e, desses foi a questão de como interpretar,
descrever e classificar aqueles que habitavam o continente então descoberto.
Posto que não existiam esquemas interpretativos disponíveis e muito menos
vocabulário adequado e suficiente para apreender toda aquela nova realidade,
tão diferente de tudo que já tinha sido visto e, que obrigava os observadores a
usarem de sua experiência fosse real ou imaginária, para compará-la e,
portanto, dessa forma descrever aquelas criaturas.
Por
isso existiram tantos relatos distorcidos e que descreviam os indígenas, a
fauna e flora de forma fantástica, sem que existisse qualquer correspondência
com a realidade do continente americano, mas que participavam do imaginário
coletivo europeu daquela época.
Todorov
também percebe: “Podemos observar aqui como as crenças de Colombo[2] influenciaram suas
interpretações. Ele não se preocupa em entender
melhor as palavras dos que se dirigem a ele, pois já sabe que encontrará
ciclopes, homens com cauda e amazonas.
Ele vê que as ‘sereias’ não são, como se disse,
belas mulheres; no entanto, em vez de concluir pela inexistência das
sereias, troca um preconceito por outro e
corrige: as sereias não são tão belas quanto se pensa.”
Em
sentido etimológico, da formação da significante selvagem, que, com efeito, é
decorrente do latim selvaticus, mas no sentido semântico, isto é, de
definição do sentido equivalente. a
principal diferença entre as duas
representações está no caráter mitológico do
‘selvagem’; essa figura habita somente o imaginário coletivo, e,
embora fosse possível atribuir
características selvagens a pessoas, não havia uma correspondência estável do ‘selvagem’ com um
grupo humano real, como existia na
oposição helenos/romanos e ‘bárbaros’.
Enquanto,
os gregos poderiam projetar seu
estereótipo de ‘bárbaro’ sobre os persas, e os
romanos sobre hunos, o ‘selvagem’ era “uma criatura imaginária que somente existiu na literatura, na arte e no
folclore, como um ser mítico e
simbólico.
O
‘selvagem’ recebeu representações na sociedade grega, teve continuação na romana, e correspondentes nas
tradições das religiões judaica e cristã
antiga; o mosaico formado pela síntese e sobreposição dessas representações foi subsumido no
conceito de ‘selvagem’ do fim da Idade
Média, vindo a se tornar um personagem típico da mitologia medieval.
Sua aparência física - “homens barbudos e nus,
com o corpo coberto de pelo, armados com
garrotes” – restou consagrada pela
iconografia medieval, em esculturas, fachadas, tapeçarias e pinturas.
O mito
do ‘selvagem’, desde sua origem, já se apresentava como uma antítese entre natureza e a cultura, em
um sentido de um embate entre o estado
do que é natural e o que é artificialmente concebido pelo humano, principalmente no tocante às regras de
comportamento e moral, que, contexto
medieval, sofriam influência direta da religião.
De
fato, o ‘selvagem’ representava tudo
aquilo que era reprimido socialmente: Na Idade Média cristã, então, o Homem
Selvagem é a destilação das ansiedades
específicas e subjacentes às três
garantias supostamente fornecidas pelas
instituições especificamente cristãs da
vida civilizada: as garantias do sexo (na
forma organizada pela instituição da família), do sustento (proporcionado pelas
instituições políticas, sociais e
econômicas) e da salvação (propiciada
pela religião).
O homem
selvagem não usufrui nenhuma das
vantagens do sexo civilizado, da
existência social regularizada ou da
graça institucionalizada. No entanto, é preciso ressaltar, ele tampouco sofre – na imaginação
do homem medieval – qualquer das
restrições impostas pelo fato de
pertencer a essas instituições.
Não se
utilizou da noção de civilidade para
contrapor a representação do ‘bárbaro’. De fato, a civilidade não
se constituía o conceito mais adequado
naquele contexto – além de, como
palavra, sequer existir antes do século XVI. Agora, porém, o conceito
que vem a ocupar, por excelência, o
posto de antítese do ‘selvagem’.
Conforme
exposto por Elias, ascendia no fim da Idade Média, o controle sobre o corpo, através da adoção de costumes
e regras de comportamento, pelo que
intitulou “processo civilizador” (2011). Suavização das maneiras, urbanidade, polidez, decoro, enfim
as convenções sociais tipicamente
europeias, portanto particulares, eram subsumidas no conceito de civilidade, e por sua vez, contrapostas
aos comportamentos do ‘selvagem’.
Verifica-se
que todos os elementos do conceito de "selvagem" foram construídos
antes do encontro com o Novo Mundo e, foram projetados aos habitantes daquele
continente, noutros termos: O selvagem é um homem europeu, e a noção de
selvageria fora aplicada aos povos não europeus, como uma transposição do mito
perfeitamente estruturado, cuja natureza só é possível entender como parte da
evolução da cultura ocidental.
A
convicção de universalidade de costumes tipicamente europeus impedia a
consideração dos hábitos indígenas como meramente diferentes.
Em
linhas generalistas, tanto a figura do selvagem[3], quando a do bárbaro, era
composta por aquilo que era rechaçado pelo interlocutor, de forma que o uso
destas implicava na atitude de desprezo. E, tais palavras carregavam, de forma
indissociável, os valores negativos que colocam o sujeito em relação
assimétrica. Destaque-se que, embora
seja possível distingui-las como feito na presente narrativa, abordando-as de forma apartada, durante suas
trajetórias, por vezes convergiram –
notadamente, quando o interlocutor buscava enfatizar valores negativos naqueles
que recebiam a designação –, por vezes, foram
utilizadas de forma intercambiável.
Assim,
explica White,
“Não se surpreende que as imagens do
bárbaro e do Homem Selvagem se combinem
entre si em muitos escritos medievais,
como em muitos escritores antigos.
Principalmente em tempos de guerra ou
revolução, os escritores tendiam a atribuir selvageria e barbárie a quem quer que
nutrisse concepções diferentes de suas
próprias”. (1992).
A
descrição do frei Tomás de Mercado dá um exemplo sobre o uso simultâneo dos conceitos: “[...] no se espante nadie
esta gente se trate mal y se vendan unos
a otros porque es gente bárbara y salvaje y silvestre, y esto tiene
anexo la barbaridad, bajeza y
rusticidad, cuando es grande, que nos a otros se tratan como bestiais, según dicen algunas fábulas,
que se hieren, y apalean los salvajes.”
"[...]
Que ninguém se assuste com essas pessoas que se tratam mal e se vendem porque
são pessoas bárbaras, selvagens e selvagens, e isso tem ligado a barbárie, a
baixeza e a rusticidade, quando é grande, que tratamos os outros como bestiais,
como dizem algumas fábulas, que se ferem, e batem nos selvagens".
O
emprego dos conceitos pelos exploradores,
era o seu uso pelos teólogos durante todo século XVI59. A participação
de intelectuais universitários,
notadamente juristas, teólogos e filósofos, nos
debates políticos decorria de uma larga tradição, cujo objetivo era
conferir coerência à cosmovisão cristã
medieval.
O
século XVI continua com a prática, de
modo que os teólogos eram frequentemente requeridos pela Coroa para resolver assuntos políticos e
morais; sua função, no entanto, não era
julgar as questões, mas legitimá-las. Isto é, conferir uma justificativa plausível, em harmonia com a
religião. “Os juízos que emitiam esses
homens frequentemente poderiam estar dirigidos a legitimar fins políticos a curto prazo, a
proporcionar à Coroa uma justificação
ética para a ação que, na maioria dos casos, já estava decidida.”
Ocorreu
em 1504, a primeira reunião ou junta da Coroa espanhola para tratar sobre a
legitimidade da ocupação espanhola na América, quando foram confirmadas as
bulas papais que haviam sido emitidas na época da conquista das Antilhas em
1493, as quais concediam aos reis católicos a soberania de todas as terras
descobertas no Atlântico que não estivessem ocupadas previamente por outro rei
cristão.
Tratava-se
de título jurídico-político, peculiarmente medieval, que sustentava a empresa
colonial: o poder temporal do Papal era extensível a todo orbe que lhe
proporcionava jurisdição e domínio, decorrente do direito de concessão de tais
territórios aos reis cristãos., enfatizava o discurso da missa civilizatória,
empreendida para a conversão dos povos pagãos.
O
mundo pagão foi durante muito tempo um grande reservatório de escravos para o comércio cristão, quer este comércio
fosse feito por comerciante cristãos ou
por comerciantes judeus em território cristão. [...] Um não cristão não era
considerado verdadeiramente um homem, e só um cristão poderia gozar dos direitos do homem – entre eles, a proteção
contra escravidão. [...] A atitude cristã
em matéria de escravidão manifesta o particularismo cristão, a
solidariedade primitiva do grupo e uma
política similar ao apartheid com relação a outros grupos.” (LE GOFF, 2005).
Curioso
debate foi o que se propôs a investigar a natureza do índios: se eram também
seres humanos, se descendiam de Adão, e se eram cristianizáveis. A inferioridade do índio perante o europeu
cristão era, em termos culturais,
praticamente indiscutível nos círculos acadêmicos, restava aferir se
essa inferioridade lhes retirava a
humanidade, ou se eram humanos, ainda que
de uma estirpe rebaixada. Não havia quem propusesse um relativismo cultural, e o ordinário uso do termo
‘bárbaro’ para referi-los confirmava
isso. Dessa forma, considerando que os índios, notadamente pela
abrupta diferença cultural, eram julgados
inferiores, faltava um marco teórico
capaz de dar conta dessa diferença (CASTILLO URBANO, 1992).
Não
demorou, no entanto, para que o índio fosse associado à teoria da escravidão natural de Aristóteles; o que foi
empreendido, pela primeira vez, pelo
teólogo escocês John Mair63, professor do Collège de Montaigu em Paris,
(CASTILLO URBANO, 1992; PAGDEN, 1988),
do qual Francisco de Vitória foi aluno durante sua estadia em Paris (KOSKENNIEMI, 2011); DE LA TORRE RANGEL,
2005).
Projetar
a teoria de Aristóteles aos habitantes do Novo Mundo, colocando o índio como carente de razão, e
simultaneamente, motivando o seu comando
pelo benevolente cristão europeu, proporcionando um bem social e individual ao índio escravizado.
De fato, a apelação à categoria
aristotélica resolvia dois problemas de uma vez: explicava a inferioridade do índio em termos familiares,
e legitimava o uso da mão-de-obra indígena nas novas colônias.
A fama
de toda doutrina de Aristóteles no meio intelectual fora popularizada pelo tomismo,
o qual, a seu turno, exercia forte influência na Segunda Escolástica, até mesmo
na terminologia usada nos textos do século XVI era aristotélica.
E, nas
palavras de Villey, era o império de Aristóteles na escolástica espanhola e,
quanto mais conhecida, tanto mais dava-se a identificação do índio como escravo
natural, de forma a tornar-se lugar comum no meio intelectual.
Nas
primeiras décadas do século XVI, enfileiram-se nomes de teólogos de defendiam
esse argumento, como Pagden e Castillo Urbano, desde o autor do Requerimiento,
Juan Lopes de Palavios RUbios, ao contendor de Bartolomé de Las Casas,
no famoso debate de Valladolid de 1550.
A
teoria sustentou a empresa colonial nas primeiras décadas. No entanto, não há como deixar de notar que sua
adoção implicava algumas contradições no
seio da doutrina cristã; pois admitia uma heterogeneidade na humanidade, incompatível com a ordem
natural criada por Deus, e ainda,
colocava em dúvida a possibilidade de conversão, de cristianização: já que eram carentes de razão
por natureza, a capacidade de algum dia
aprender a verdadeira fé era questionada.
Simultaneamente,
começaram a aparecer relatos da realidade
colonial, trazidos principalmente pelos
frei e padres missionários, sobre as atrocidades cometidas pelos colonos aos índios. As
críticas ao sistema colonial, no tocante
ao trato com os índios, foram introduzidas por Antonio de Montesinos, todavia, nos sermões e escritos de
Bartolomé de Las Casas que receberam
maior contundência e notoriedade.
Com as
premissas político-jurídicas próprias da Idade Média, que conferiam poder temporal irrestrito e
universal ao chefe da Igreja (KOSKENNIEMI,
2011). Embora teólogos, refere-se como destaque no âmbito jurídico, Francisco de Vitoria,
Domingo de Soto, e mais tardiamente,
Francisco Suárez.
A
relevância de Francisco de Vitória é muito exaltada pois é um dos fundadores do
direito internacional moderno e por ter lançado as bases do mesmo,
principalmente, nas suas relecciones De indis, e Jure Bellis
Hispanorum in Barbaros proferidas em 1539 e que abordaram a questão do
índio então recém descoberto.
Ponderou
Castillo Urbano, “o influxo do Novo
mundo foi, portanto, decisivo na dedicação de Vitória ao Direito das Gentes.” (2006). Nesse sentido, tem
pertinência o argumento de Anghie, de
que o que move o direito internacional, desde sua gênese pré-moderna, é, na verdade, o ímpeto
colonizador europeu.
A
Segunda escolástica também teve expoentes em Coimbra, com maior vinculação com a Companhia de Jesus, os quais
diferenciavam-se por ter uma atitude
mais independente, do que a Ordem Dominicana, frente ao tomismo. Cabe citar Luis de Molina e, posteriormente,
Francisco de Suárez.
A
paternidade do Direito Internacional é questão que não cessa de gerar controvérsias; e não se pretende disputá-la
aqui. Assume-se que a discussão sobre suposta
paternidade do direito internacional moderno é ser inócua, pois, em verdade, fruto de uma criação coletiva e
gradual, dificilmente atribuível a único gênio.
Macedo
indica que após a segunda metade do século XIX operou-se uma mitificação de Vitória, colocando-o como
“criador de um conceito inédito de jus gentium e primeiro defensor dos direitos
humanos.” (2012), como consagrado na
obra de James Brown Scott, de 1934 (SCOTT, 2007). Schmitt, de forma breve, comenta essa mitificação (2014).
Schmitt
também sustenta essa tese: “Ao longo de quatrocentos
anos, do século XVI ao século XX, a estrutura do direito das gentes europeu foi determinada por um evento
fundamental: a conquista de um mundo novo”
(2014). Porém, enquanto Anghie coloca sua lupa na questão da soberania, e de
como ela foi negada aos povos não europeus, Schmitt foca na tomada de terras para construir seu argumento.
‘De
indis' é separado em três partes. Na primeira trata sobre a
natureza dos índios, e sobre possibilidade de terem domínio sobre as terras do Novo Mundo. Sua atitude perante os
índios, não obstante, é diversa de seus
antecessores. Vitória, assim como Las Casas, retira o índio do estado de escravidão natural aristotélico,
arguindo “[...] na realidade, ‘ não são dementes, mas a seu modo têm uso da
razão.” (2006); devolvendo a humanidade
do índio. Essa transformação na natureza do ‘ índio será essencial para
construir sua concepção de ius gentium, de modo a incluir os índios sob o mesmo manto
jurídico. Garantindo a razão aos ‘ habitantes do Novo Mundo, Vitória assegura o
domínio das terras aos índios:
Nem o
pecado de infidelidade nem outros pecados mortais impedem que os índios sejam
verdadeiros ‘ donos tanto publica como privadamente e que, por ‘ esse título,
os cristãos não podem ocupar seus bens e
suas terras.
Vitória
segue a tradição de referenciar aos
índios como ‘bárbaros’, e é assim que inicia
sua exposição: “Toda esta controvérsia e a consequente interpretação surgiram e se difundiram por
causa dos bárbaros do Novo
Mundo,
chamados popularmente de índios que, desconhecidos antes em nosso mundo, caíram há quarenta anos em poder
dos espanhóis.”. De tal modo segue ao longo da obra, utilizando o termo de forma intercambiável, o
que indica uma continuidade na atitude de superioridade do cristão europeu perante
o índio
De
fato, transpunha-se a inferioridade do índio, de um plano vinculado à natureza,
para um plano cultural, o que torna os índios inferiores ao cristão europeu,
não é uma diferença natural de humanidade, que agora lhe é concedida, mas suas
práticas e tradições, que indicam um modo de vida inculto. Apesar de serem
humanos, ainda são bárbaros.
In
litteris: “[...]Ainda que não sejam totalmente desprovidos
de juízo, se diferenciam muito pouco dos
dementes, de maneira que parece que não
são aptos a constituir e administrar uma
república legítima, nem mesmo dentro de
limites humanos e civis. Por isso não
possuem leis convenientes nem magistrados nem mesmo são suficientemente capazes de governar
a própria família. Essa é a causa de que
não tenham letras e artes, não só artes
liberais, mas também mecânicas, e que
careçam de muitas outras coisas
conveniente e até necessárias para a vida humana”. (VITORIA, 2006).
Vitória
recorre mais de uma vez a comparação dos índios “como se se tratasse de crianças” (2006). Certo que
não se trata de uma mera educação, mas
uma aculturação: abandonar os costumes ditos
‘bárbaros’ não significa outra coisa que substituir os costumes e
tradições indígenas pelos costumes
europeus, e principalmente, ensinar-lhes a
religião verdadeira (CASTILLA URBANO, 1992).
Seguindo
essa argumentação, Vitoria chega a sugerir como título legítimo, baseado “no preceito da caridade”
(2006), que “para o próprio bem deles os
reis da Espanha poderiam assumir a administração e nomear prefeitos e governadores para suas
cidades” (2006), permanecendo tutelados
até que atingissem a maioridade da razão:
Isto
se confirma com certa veracidade porque se
por acaso perecessem todos os adultos destas terras e ficassem só as crianças e adolescentes que
têm algum uso de razão, porém que ainda
estão na idade da infância e da
puberdade, parece claro que, sem lugar a
dúvidas, poderiam os príncipes se
encarregar de seu cuidado e governá-los enquanto estivessem nesse estágio.
Se
isto for admitido, parece que não haverá
que negar que possa se fazer o mesmo com
seus pais, os bárbaros adultos, supondo
a rudeza que lhes atribuem os que
estiveram lá, que afirmam que é muito maior que a das crianças e dementes de outras nações.
Seguindo
a tradição tomista, Vitória, embora rechace os
argumentos da escravidão natural, não se desvincula de Aristóteles. O
que faz, na verdade, é converter a
escravidão natural em outra categoria de
escravidão abordada na Política de Aristóteles, a escravidão civil.
Negava-se
que o índio tivesse natureza diversa, porém, deixava aberta a possibilidade do
índio ser escravo, decorrente, por
exemplo, da vitória de uma guerra justa, conforme argumenta, in
litteris: “Esta conclusão é suficiente clara, porque se é lícito lhes mover guerra também o será submetê-los
aos direitos de guerra. E se confirma
porque não devem estar em situação
vantajosa por serem infiéis. Ora, se é
lícito fazer todas estas coisas contra os cristãos, tratando-se de uma guerra justa, logo, também
será lícito fazê-las contra eles”.
Além
do mais, é princípio geral do Direito
das gentes que todas as coisas
capturadas na guerra passem ao poder do
vencedor [...], em que se diz que, pelo Direito das gentes, o que capturamos dos inimigos
passa imediatamente a ser nosso, de
maneira que inclusive os homens podem
ser submetidos à nossa servidão.
(VITORIA, 2006).
Com
essa nova argumentação, Vitória solucionava as contradições implicadas pela teoria aristotélica do
escravo natural: ao defender a
humanidade do índio, reconciliava-se com à doutrina cristã, e ao mesmo tempo, legitimava sua escravização na
modalidade civil, prática da qual a
Igreja era convivente há muitos séculos. É claro que, no plano
teórico, Vitoria devolve a humanidade ao
índio – motivo pelo qual foi vangloriado
como defensor dos índios -, mas não sua liberdade.
Dessa
forma, Vitoria não faz nada mais que
substituir os argumentos que considera não idôneos, por outros,
agora legítimos, e em harmonia com a
doutrina cristã. A subjugação dos índios,
e a exploração dos domínios do Novo Mundo, em praticamente nada são alterados, mas sua legitimação é posta sob
novas bases, agora, coerentes e atualizadas
às transformações impulsionadas pela transição no quadro político do fim da Idade Média.
Conforme
resume Wolkmer, [...] no século XIV que começa a dissolução das instituições
até então hegemônicas (Igreja e Sacro
Império), o aumento do poder real com o
aparecimento das monarquias nacionais (França e Inglaterra), o desgaste e eclipse do papado,
a emergência do reformismo filosófico e
da secularização na política. (2006).
Realmente,
a estrutura política bicéfala, conforme a expressão de Le Goff (2005), cujo
poder era dividido entre o Sacerdócio e o Império, já não dava conta da nova realidade e
evidenciada na ascensão dos Estados, como unidades políticas autônomas.
E,
assim, Vitória desconstrói: o domínio mundial do imperador (2006), o poder temporal e
universal do sumo pontífice (2006), e o
direito decorrente do mero descobrimento
– jus inventionis - (2006). De longe, o segundo título é o
mais relevante; o primeiro, sobre um
cesarismo imperial, era tese propriamente
medieval não resgatado desde Bartolo da Sassoferrato, na primeira metade do século XIV, e, conforme argui
Castillo Urbano, não parece ter sido
aplicado por nenhum autor específico na questão do Novo Mundo (1992); o último, o próprio Vitória não se
dedica a refutar, pois não era título
usualmente reivindicado, e sua validade, decorria necessariamente de um dos dois primeiros
títulos.
Era
sob a legitimidade e validade do título decorrente da autoridade temporal do sumo pontífice que
se estribava o domínio dos espanhóis no
Novo Mundo, pois do Papa decorria o poder do imperado Pois a posse das terras do ultramar pela
monarquia espanhola dependia diretamente
das concessões – donatio - feitas através das bulas papais, seguindo uma tradição de
direito feudal; foi o caso da bula Inter
cætera divinæ , do papa Alexandre VI, adotada poucos meses após o descobrimento (SCHMITT, 2014; DE LA
TORRE RANGEL, 2005). Schmitt resume bem
essa ordem jurídica, nos
seguintes
termos: “Os príncipes e povos que tomam a terra e o mar permanecem na ordem espacial da Respublica medieval: encontram na fé cristã um fundamento comum e no chefe supremo da
Igreja – o papa – a mesma autoridade.
Por conseguinte, eles se reconheciam
reciprocamente como partes iguais de um
contrato de divisão e repartição
resultante de uma tomada de terra”.
Rompe-se
com essa tradição própria do contexto medieval, Vitória viu-se obrigado a
legitimar o domínio espanhol no Novo Mundo, sob outra argumentação e, é então
que inovou na abordagem do tema, introduzindo elementos próprios da
modernidade, através da articulação de um direito das gentes racional e
natural, pautado no acordo entre os homens.
A
concepção de direito natural de Tomás de Aquino é tomada com fulcro para a
construção de sua proposição. Villey, por sua vez, não se tratava de uma
fidelidade irrestrita. Notadamente, porque Vitória, embora assente sua
proposição de direito das gentes sob o
direito natural, extrai dele regras fixas e inalteráveis, das quais o autêntico direito natural de tradição
tomista aristotélica jamais foi capaz de
fornecer, pois adaptável às condições históricas, às quais o direito deve se adaptar. (VILLEY, 2009). Por
isso, “Vitória distanciou-se da teoria
tomista, para fazer do direito das gentes, um tipo de direito positivo, baseado no acordo
humano” (BRETT, 2012).
Assim,
o direito das gentes de Vitória aproxima-se de um direito racional, na medida que [...] supõe que os
homens se entendem universalmente sobre
certos preceitos de direito, que sua
razão comum, ao refletir sobre a natureza,
lhes dita. Desse trabalho da inteligência humana podem se originar regras formuladas e essas
regras são universais, insuscetíveis de
ab-rogação, já que a razão as impõe.
(VILLEY, 2009).
Por
tais preceitos d direito, precisos e inamovíveis e por serem acessíveis apenas
com a razão, que Vitória é obrigado a considerar que os índios como humanos e,
ainda que a seu modo, racionais; não fosse isso, seria impossível estender o
direito das gentes até o Novo Mundo.
Assim,
situando-se os índios sob essa nova ordem jurídica universal, tornava-se
admissível julgar seus comportamentos, bem como condená-los e puni-los de
acordo com o direito que Vitória passará a elencar na terceira seção, em que
trata dos títulos legítimos.
A
subjugação dos índios, deixa de ter então caráter arbitrária, ou justificativa
decorrente do direito medieval, e em evidente decadência, e passou a ser
juridicamente justificada e justa.
Por
conseguinte, regras que, para Vitória, são
deduzíveis somente através da razão, e sustentadas em exemplos
retirados de fontes da tradição
ocidental, principalmente, romana e cristã: direito de livre trânsito - ius
peregrinandi (2006), direito de
fazer comércio - liberum comercium (2006), direito de apropriar-se de res
nullius (2006), direito de propagar a religião cristã, direito de defender os
homens dos sacrifícios humanos (2006).
Esses
direitos não são exclusivos dos espanhóis, mas de todos aqueles que têm autonomia e razão, e estão
sob a jurisdição do direito das gentes;
são direitos universais. No entanto, conforme pondera Baccelli, são direito abstratamente universais (2008),
ou nas palavras de Jörg Fisch, direitos
formalmente recíprocos, enquanto materialmente
unilaterais (2000); isto é, além não exequíveis pelos indígenas,
eram direitos totalmente alheios aos
interesses dos aborígenes americanos, que
efetivamente não importavam. Por outro lado, os interesses dos conquistadores espanhóis eram, por excelência,
contemplados nos direitos elencados por
Vitória.
No
plano teórico, o direito das gentes de Vitória apresenta-se como um direito universal e racional; com efeito,
trata-se de uma razão proveniente da
visão de mundo ocidental sendo projetada para todo o mundo. De tal modo, o
racionalismo em Vitória, ao pretender-se
universal, torna-se a-histórico, pois é desvinculado da experiência particular de onde foi gerado.
Essa
atitude universalista, cujos valores
projetados são essencialmente da razão europeia, só é possível,
pela incapacidade de enxergar o outro,
de perceber a cultura do outro como
diferente, e não como inferior. Não é fortuito que a relectio de
Vitória seja referida como um dos
primeiros e mais consistentemente influente
documentos na questão sobre a legitimidade do imperialismo europeu.
Logo,
se as relecciones de Francisco de
Vitória efetivamente lançam as bases do direito internacional moderno, esse direito nasce com caráter eurocêntrico,
pretensão universalista e espírito
colonizador de subjugação do outro.
Um
direito que se funda na experiência estritamente europeia, sob fontes cristãs e
romanas, valorizando direitos
exclusivamente convenientes ao propósito
colonizador europeu, e encontra a seu instrumento sancionador na própria guerra feita contra os índios.
Hobsbawn
observou que o Iluminismo francês, no afã de nomeara profusão de ideias,
necessitou de muitos neologismos, e, assim trouxe alteração de sentidos e de palavras
que foram cunhadas à medida que o léxico
do Antigo Regime se mostrava insuficiente e incapaz de apreender a realidade em
transformação.
Ou já
não representavam os interesses revolucionário. Foi uma legítima batalha
semântica, onde os sentidos disputados visando a manutenção, a definição, e a
imposição de projetos e posições políticas e sociais.
Entre
os novos vocábulos do século XVIII, está a palavra "civilização",
advinda do francês civilisation, que se até então, não havia sido
utilizada, estava destinada a tornar-se uma das palavras- chave do pensamento
moderno ocidental.
Conforme
Koselleck, neologismos “surgem em certos momentos e que reagem a determinadas situações sociais ou políticos
cujo ineditismo, eles procuram registrar
ou até mesmo provocar.” (2006).
Como
restou evidenciado na vasta produção
intelectual da Europa continental do século XIX, em que o termo foi utilizado copiosamente, do
pensamento político e social às ciências
naturais. De fato, incrustou-se indelevelmente no imaginário coletivo moderno.
Se,
por um lado, o termo era novo, por outro, os elementos que comporiam seu conceito eram preexistentes, e
formulados de maneira variada, tanto no
tempo, quanto no espaço. A rápida e difusa adoção do neologismo ‘civilização’ em toda Europa
continental deu-se uma vez que representava
e sintetizava em uma só palavra, múltiplos elementos formulados historicamente e já consolidados
(STAROBINSKI, 2001), e que então, o momento histórico88 permitia a convergência
em um conceito unificador.
Mais
que uma mera palavra "civilização" ´um conceito e segundo Koselleck
(2006) agrega e concentra multiplicidade de conteúdos acumulados ao longo de
seu uso, ou da formulação de seus significados. Portanto, a experiência
história que o conceito traz consigo implica obrigatoriamente numa polissemia,
dependente das circunstâncias políticas e sociais que agregam significados ao
conceito.
Ao se
reconstruir a estrutura do conceito civilização,, partindo de suas raízes
etimológicas. E, inicia-se com a definição encontrada nos dicionários, que
obviamente, não há conta da multiplicidade de significados que um conceito como
civilização carrega; todavia, pode servir como partida para identificar os
primeiros elementos a serem abordados.
O
referido verbete segundo os dicionários franceses do século XIX, servindo de
referência para significa ato de civilizar, e estado de quem é civilizado. Ou,
nas palavras de Febvre: “Civilisation naît à son heure.” (a civilização
nasce no seu tempo).
Embora
econômica, a definição permite relevantes considerações, tanto em relação à semântica, quanto ao léxico.
Quanto a esse aspecto, partindo da breve
definição é possível notar que os dicionários se valem de outras duas palavras, integrantes da mesma
família léxica, para explicar seu
significado: o verbo ‘civiliser’ e o adjetivo ‘civilisé’.
A
remissão, portanto, indica a preexistência de tais palavras (FEBVRE, 1929), das quais o substantivo ‘civilisation’
deriva-se por sufixação. De fato,
‘civilizado’ é encontrado pela primeira vez no século XVI, derivado de civilidade – civilitate
(STAROBINSKI, 2001); ‘civilizar’, como
ato de tornar ‘civilizado’, nasce posteriormente; ou seja, as raízes etimológicas da palavra civilização
nascem quatro séculos antes.
Seguindo
na apreciação da breve definição dos dicionários franceses, os quais contêm alguns indicativos
a auxiliar na identificação dos
elementos que montam o mosaico conceitual de civilização.
Analisando
as definições, agora sob o aspecto semântico, é possível identificar a existência de dois significados
distintos, mas interdependentes: 1) o
ato de civilizar, e 2) estado de quem é civilizado. Isto é, apresenta, respectiva e
simultaneamente, uma ação e um estado;
de forma que civilização é exposta, portanto, como o processo de civilizar, e também, como o resultado do
próprio processo.
Norbert
Elias refere que a palavra ‘civilidade’, do francês civilité, foi cunhada no segundo quartel do século XVI
(2011), e disseminada pelo tratado De
civilitate morum puerilium, de 1530, do humanista Erasmo de Rotterdam.
Escrito
para a educação das crianças (2011), o livro arrolava regras de comportamento
das pessoas na sociedade, e seguia uma
tradição medieval preocupada com os modos e etiquetas, notadamente nas sociedades de corte – daí o
termo cortesia -, que eram passados por
poemas mnemônicos que eram cantados, já que grande parte da sociedade era iletrada, a fim de inculcar
os modos considerados adequados.
Assim,
as palavras que formavam seu campo semântico,
eram: polidez, polícia, cortesia, cavalheirismo, etc., sempre com referência a moderação dos costumes. Nesse
sentido, a associação com moralidade
também era pertinente.
O
significado de civilizado, portanto, é por certo aquela pessoa educada, polida.
É possível afirmar que ocorre uma transformação no sentido de civilizado, com o
advento do neologismo civilização. E, de fato,, a partir do século XVIII,
civilizado não remeterá apenas aos costumes, meramente culturais, mas englobará
outros aspectos ligados aos progressos técnicos e à urbanidade.
Em
verdade, há uma temporalização do conceito. Ou seja, é o conceito de civilizado
de um caráter eminentemente estático, passará a representar uma situação de
movimento, na qual o civilizado será o resultado do processo civilizador,
assumindo um caráter evoluído.
Já o conceito
de bárbaro acompanha sua antítese. Antes
de sua temporalização, embora sempre comportasse uma conotação negativa, o ‘bárbaro’ era tratado
como inferior, mas não como primitivo,
como atrasado. Assim, as duas categorias estáticas são projetadas para uma escala de evolução, e
convertidas em estágios desse processo.
Esse
câmbio no significado de ‘civilizado’ é alterado gradualmente, enquanto ocorre a gestação do
conceito de civilização, que, enfim,
nasce no século XVIII. Tal transição é explicada por uma mudança na percepção do tempo, o qual era empurrado
pelas transformações sociais
empreendidas principalmente pela Revolução Industrial e o Iluminismo, gerando uma sensação de
aceleração da história (KOSELLECK,
2014).
Da
nova forma de ver o mundo, em transição
constante, como um processo, advém o conceito de civilização, pressupondo uma teoria evolutiva das
sociedades. Não é fortuito que a palavra
progresso apareça em simultâneo.
De
fato, predominava, ainda no século XVI, uma percepção do tempo teológica, ditada pelo cristianismo93,
e que embora fosse linear, em
contraposição à concepção cíclica da antiguidade94, era
escatológica (KOSELLECK, 2006).
Isto
é, vivia-se na iminência do fim do
mundo, um evento não determinável, mas certo. Agostinho de Hipona é,
habitualmente, indicado por ter teorizado
essa percepção, ao debater sobre o Juízo Final, em A Cidade de Deus,
e ao desvincular o plano terreno –
civitas terrena - do plano espiritual –civitas Dei.
“Assim,
na qualidade de elemento constitutivo da Igreja e configurado como o possível fim do mundo, o futuro foi
integrado ao tempo; ele não se localiza no
fim dos tempos, em um sentido linear; em vez disso, o fim dos tempos só
pôde ser vivenciado, porque sempre fora
colocado em estado de suspensão pela própria
Igreja, o que permitiu que a história da Igreja se perpetuasse como a
própria história da salvação.
“A
generalização da era cristã implicou o abandono de uma concepção circular do tempo que estava
extremamente disseminada, inclusive, na
China e no Japão, regiões que a datação se fazia por anos do reinado
do Imperador: a data de origem é o
início do reino. No entanto, os reinos se
encadeavam em dinastias ou eras, cada uma das quais segue a mesma
trajetória, desde a fundação por um
soberano prestigioso até sua decadência e ruína. ”
Percebe-se
que “Em A Cidade de Deus, santo Agostinho fala como cristão inspirado pela Bíblia, mas também como
romano, habituado a viver num tempo
contínuo, ameaçado pela catástrofe final. ”
No
significado de ‘civilizado’ é alterado
gradualmente, enquanto ocorre a gestação do conceito de civilização,
que, enfim, nasce no século XVIII. Tal
transição é explicada por uma mudança na
percepção do tempo, o qual era empurrado pelas transformações sociais empreendidas principalmente pela
Revolução Industrial e o Iluminismo,
gerando uma sensação de aceleração da história
(KOSELLECK, 2014).
Da
nova forma de ver o mundo, em transição
constante, como um processo, advém o conceito de civilização, pressupondo uma teoria evolutiva das
sociedades. Não é fortuito que a palavra
progresso apareça em simultâneo.
De
fato, predominava, ainda no século XVI, uma percepção do tempo teológica, ditada pelo cristianismo93,
e que embora fosse linear, em
contraposição à concepção cíclica da antiguidade94, era
escatológica (KOSELLECK, 2006). Isto é,
vivia-se na iminência do fim do mundo,
um evento não determinável, mas certo.
Nesse
sentido, “a generalização da era cristã implicou o abandono de uma concepção circular do tempo que estava
extremamente disseminada, inclusive, na
China e no Japão, regiões que a datação se fazia por anos do reinado
do Imperador: a data de origem é o
início do reino.
No
entanto, os reinos se encadeavam em
dinastias ou eras, cada uma das quais segue a mesma trajetória, desde a fundação por um soberano prestigioso
até sua decadência e ruína. ”
A
transformação do conceito de civilidade
e civilização dá-se em consequência da gradual mudança de concepção do tempo, passando de um tempo
teológico e finito, para um tempo
laicizado e aberto, marcado pelo progresso infindo; e que essa conversão de significados é refletida no
discurso jurídico internacionalista, de
modo que é possível perceber a alteração na
semântica de tais palavras através dos textos fundadores do direito internacional moderno. Além disso, todo esse
percurso na gênese do novo sentido, é
acompanhada por uma consequente transição na atitude do direito internacional perante o mundo
extraeuropeu.
Desse
modo, no primeiro capítulo, será analisada a articulação do conceito ‘civilizado’, e como não poderia
deixar de ser, seu antônimo ‘bárbaro’,
nos textos fundantes que, conjuntamente com a Segunda Escolástica - já analisada pela
representatividade dos textos de Francisco
de Vitória - contribuíram para a formação do direito internacional moderno, notadamente pelas figuras de
Alberico Gentili e Hugo Grotius.
Com
efeito, enquanto Francisco de Vitória, escrevendo na primeira metade do século XVI, não dispunha do
conceito ‘civilizado’, mas utilizava o
termo ‘bárbaro’ com destreza, seus sucessores na construção do direito das gentes, notadamente Alberico
Gentili e Hugo Grotius, já possuíam a
palavra ‘civilizado’, evidenciado pelo uso que faziam da mesma. Dessa forma, os conceitos serão
tomados considerando especialmente os
aspectos ressaltados para identificar sua gradual temporalização
Na
fronteira da modernidade, Alberico Gentili teve
um papel destacado na formação do direito internacional moderno,
sendo um dos primeiros a fornecer certa
sistematicidade ao estudo do direito das
gentes. Até então, as contribuições da provenientes da Segunda Escolástica, embora relevantes, haviam sido
pontuais, sem um caráter de completude
ao tema.
Vitória,
por exemplo, não pretendia conceber
propriamente um direito das gentes, mas o utilizou para tratar dos
temas que o preocupavam, no caso a
legitimidade da conquista do Novo Mundo;
tanto que suas contribuições se limitam às relectiones, que
eram conferências sobre temas
específicos, das quais o teólogo havia se
ocupado durante à docência. De fato, tudo indica que o teólogo de Salamanca jamais tenha escrito um livro.
Gentili
escreveu em diversas obras, sobre o direito diplomático - De legationibus.
Assim, De Iure Belli, obra pela qual se consagrou com maior relevância
para o direito internacional e em tom monográfico mas, sem pretensão de
exaurir, mas ao compilar as principais questões sobre as questões bélicas,
embora não se possa afirmar existir uma unidade em sua obra, baseada em um princípio
que conferisse coerência ao todo.
Ainda
que seu foco seja muito baseado o direito de guerra, decorrente e, portanto,
parte do direito das gentes, a obra adiantou concepções e conceitos que
levariam a formação do direito internacional moderno, propondo abordagens
originais do tema.
Em
Gentili, a pretensão de fornecer a temática que
estava explorando um caráter de disciplina autônoma, e ainda, um
caráter eminentemente jurídico ao
direito das gentes. Portanto, contrapõe-se
claramente à Vitória, que havia declarado que “o veredicto sobre
este assunto não compete aos juristas”
(2006), mas aos teólogos; em uma
evidente estratégia de legitimar sua abordagem.
Logo,
Gentili, cuja formação era jurídica –
possuindo doutorado em direito romano pela
Universidade de Perugia - fazia questão em afastar os filósofos,
políticos e, principalmente, os teólogos
da articulação do direito das gentes; assim,
restou célebre a frase com que fecha o capítulo “Se as guerras estão
de acordo com a natureza”: “Teólogos, em
coisas que não vos dizem respeito,
calai!” 102 (GENTILI, 2005).
Obviamente,
tratava-se de um recurso para legitimar
seu próprio discurso, mas as consequências
dessa querela extrapolavam a questão da possibilidade de dizer o
direito, pois introduziam, pela primeira
vez no direito das gentes, a questão da
autonomia da disciplina, desvinculando o direito das gentes da teologia
e da moralidade política, e colocando as
bases do movimento secularizador
moderno; o que segundo Tuck, possibilitou uma abordagem mais pragmática das questões bélicas,
aumentando o elenco de justas causas,
até então restrito na abordagem teológica (2002; PANIZZA, 2014).
A
estrutura de pensamento gentiliano consiste em
identificar a existência de regras universais, a partir da enumeração
de exemplos retirados de fontes
clássicas, que evidenciam a prática e os
costumes no âmbito da sociedade internacional; separando aqueles atos recorrentes e apreciados pela literatura,
daqueles excepcionais e amplamente
rejeitados (KINGSBURY, 2001).
Conforme
Lacchè, Gentili empreende um grande
esforço empírico que valoriza a iurisprudentia,
orientado a compreender os princípios da justiça inerentes ao gênero humano (2009).
Gentili
recorre à representação helênica de ‘bárbaro’, enfatizando que a dicotomia
grego e ‘bárbaro’, nesse caso, não diz
respeito à nação, isto é, sobre os diferentes povos, mas ao estado da razão; assim, retira o tradicional significado
concebido pelo mundo helênico, de
‘bárbaro’ como ‘não grego’, vinculando o termo apenas à ausência de razão; além disso, alocando o
‘bárbaro’ na mesma categoria de
‘selvagem’ e animal, ou seja, em um estado bestial.
Não
obstante, é interessante perceber que agora,
essas características negativas são analisadas sob a perspectiva
jurídica; e então, o ‘bárbaro’ passa a
assumir, por excelência, o papel daquele que não tem sentimento de justiça, ou
mesmo não vive sob império do direito,
mas sob o signo da injustiça: [...] os bárbaros, não por temor ou
vergonha, costumam fazer, como se diz,
de toda erva feixe, não se comportando
conosco como eu gostaria que nos
comportássemos com eles, uma vez que
Plutarco
me ensinou que não se deve dar razão a
quem diz que a injustiça deve ser combatida com injustiça, quando, ao contrário, é injustiça
vingar-se dos injustos, imitando-os. (GENTILI, 2005).
Em
Gentili, será a injustiça o principal atributo do ‘bárbaro’. Nesse sentido: “as leis chamam de
injustiça e ferocidade própria dos
bárbaros fazer escravos quando não há guerra.” (GENTILI, 2005); e ainda: “Essas coisas costumavam ser
feitas pelos bárbaros por ferocidade
natural ou por má índole.” (GENTILI, 2005).
Enfim,
todas aquelas condutas que são condenadas por
Gentili, e, portanto, são contrárias ao direito das gentes, são atribuíveis aos ‘bárbaros’. A ponto de suplicar, ao fim
do livro dois, para que o modo de
guerrear dos ‘bárbaros’ não fosse aprendido pelos cristãos.
O ardil e os estratagemas, da mesma forma, são
atributos de ‘bárbaros’: “Tratamos assim
dos enganos por palavras e dos estratagemas e também de certos enganos por fatos. Entre esses últimos figura
certamente o uso de venenos. Esta
espécie de engano é condenada. Usaram-na os bárbaros contra Alexandre.
Não é, portanto, ato de bárbaros? ”
(GENTILI, 2004).
“Em
primeiro lugar, não tenho presente e não
creio que Vegécio tenha dito isso. Mas, se o disse, deve tê-lo feito, segundo meu parecer, na enumeração
daqueles estratagemas que não constituem
direito, mas são próprios dos bárbaros. Esses, como assinalei, preferem combater com a lança de Judas do que
com armas leais. Por isso Polieno
adverte que, tratando com os bárbaros, é preciso, acima de qualquer
outra coisa, tomar cuidado com seus
estratagemas. ” (GENTILI, 2004).
O
descaso com a justiça e o direito, expresso no comportamento ‘bárbaro’ levam Gentili a rejeitar,
inclusive, que com eles sejam celebrados
tratados; concluindo que cristãos jamais deveriam firmar tratados com não-cristãos (TUCK, 2002);
excetuados, obviamente, aqueles
destinados ao comércio, afinal “deve-se dizer, e isto é verdade, que comercializar com os infiéis não é
proibido.
E
Gentili não emprega o termo ‘bárbaro’ apenas
para se referir aos turcos, pois quando discute, ainda que
brevemente, sobre a questão da conquista
espanhola, confere o mesmo tratamento aos
índios americanos:
Quanto
ao mundo que é chamado novo, quase não
há mais dúvida que estivesse unido ao nosso e sempre conhecido dos índios distantes.
Esta é a
única causa pela qual parece poder defender como justa a guerra dos espanhóis naquelas partes
do mundo, ou seja, que os habitantes
quisessem distantes os demais de seu
comércio. A defesa seria justa se o fato
narrado fosse verdadeiro, uma vez que o
comércio é do direito das gentes.
Direito
que, por mais que o homem faça para
contrastá-lo, permanece sempre o mesmo.
Mas os espanhóis não visavam somente o
comércio no novo mundo, mas também o
domínio e acharam lícito ocupar aquelas
terras que não eram por nós conhecidas, como se o fato de serem ignotas equivalesse a não serem
de propriedade de alguém.
Surgiu então a questão entre os reis de Castela e de Portugal,
definida pelo pontífice romano, que
estatuiu que cada um era livre de ocupar
aquela parte que mais lhe conviesse.
Acredito que seja comum entre todos os
bárbaros não querer saber de hóspedes. Não se pode dizer que seja totalmente negado o
comércio, mesmo que alguma espécie dele
seja proibida. (GENTILI, 2004).
‘Bárbaros’,
no trecho, apresenta-se como uma categoria que
engloba todos os povos que se comportam dessa maneira peculiar e contrária ao direito natural das gentes. E
nesse momento, Gentili começa a
apresentar mais semelhanças que divergências do pensamento de Vitória.
Assim,
da mesma forma que o teólogo salmantino, condena o domínio ibérico nas terras americanas baseado
no mero descobrimento, e legitima a
submissão dos indígenas aos espanhóis diante da resistência em realizar comércio, pois “[...] a lei natural
quer que todos os homens pratiquem o
comércio entre si” .
Do ius
communicationis, além do direito de livre comerciar, deriva o ius
peregrinandi, também garantido no rol dos direitos das gentes, afirmando que “se não houver razão
para negar a passagem, mas ela é negada,
com essa recusa surge justa causa de guerra. Passar pelo território alheio é lícito.” (GENTILI, 2004).
Divergem
apenas quanto à possibilidade de
derrogar a regra em casos específicos, já que
Vitória a concebe como absoluto. Por conseguinte, seguindo o mesmo raciocínio do escolástico, a violação desse
direito gera injúria: “A guerra que se
move para vingar essa agressão não é somente justa, mas serve para afirmar um nosso direito natural.”
(GENTILI, 2005).
É
um caso de guerra ofensiva, do tipo
útil, para vingar uma iniuria accepta (CASSI, 2008). Vitória, embora previsse a
justa apropriação de res nullius,
“contanto que não sejam prejudicados os cidadãos e os naturais do
país.” (VITORIA, 2006), não arrola como
direito das gentes a ocupação das terras
‘vacantes’.
Pautado na guerra por necessidade, o jurista
italiano introduz um direito destinado a
ter muito uso na retórica colonial dos
séculos seguintes, como, por exemplo, por John Locke. Mas, ainda reserva a soberania previamente exercida sob
aquele território, não afetada pela
ocupação. Gentili expõe nos seguintes termos:
Com
relação às terras desabitadas os nossos
ensinam que, como res nullius, pertencem a quem por primeiro as ocupar. Embora, como
alguns querem, pertençam ao príncipe que
tem jurisdição sobre aquele território,
deverão cedê-las no entanto ao primeiro
ocupante, permanecendo válida a
jurisdição do príncipe por força da lei de natureza que não gosta de nada de vazio. (GENTILI,
2004)
O
uso do termo ‘bárbaro’ por Gentili
demonstra essa atitude, pois o utiliza, em
regra, para se referir ao mundo extraeuropeu, em sentido
pejorativo, como violento e injusto.
Já a
palavra ‘civilizado’, por ser recente no
léxico disponível, não aparece tantas vezes como seu antônimo, e
sua definição, provavelmente por seu um
tratado bélico, apresenta-se vinculado
ao honrado, justo, honesto; podendo ser comparado ideais do código de conduta da cavalaria medieval.
Assim,
é inaugurada a dicotomia
civilizado/bárbaro no âmbito do discurso internacionalista, ainda que de forma elementar, sem a forte
antítese que predominará posteriormente.
Enfim,
se o vocabulário utilizado por Gentili demonstra, de per se uma subjugação simbólica, a forma como
articula os conceitos, vinculando-os com
exemplos negativos termina por consagrar a atitude eurocêntrica.
Em sua
principal obra, De Jure Belli ac
Pacis, de 1625. Grotius escrevia em meio a um conturbado moment nas relações
internacionais, dado principalmente pelo
início da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648); e assim, via a necessidade de estabelecer um
direito posto acima dos Estados, que
regulasse as relações internacionais, inclusive o andamento da guerra; o que o
levava a afirmar: “Estou convencido [...] que existe um direito comum a todos os povos e que serve
para a guerra e na guerra. ” (GROTIUS, 2005).
Apesar
de reconhecer a tradição em que a obra se inscrevia, citando seus precursores escolásticos, e,
inclusive Gentili, o qual não poderia
ignorar por também ter escrito sobre questões bélicas, argui que “[...] poucos escritores tentaram entrar nesse
campo, ninguém tentou até o presente
fazer disso o objeto de um tratado completo e metódico. ” (2005), e foi além,
afirmando que
Todos
esses autores pouco disseram sobre esse assunto
tão fértil e a maioria fez mesclando ou confundindo
sem ordem alguma o que é relativo ao direito
natural, ao direito divino, ao direito das gentes, ao direito civil, que decorrem os
cânones.(2005).
Gentili
encerrou o século XVI sendo sucedido por Hugo Grócio ou Grotius, referenciado
nos séculos seguintes, considerado como o verdadeiro pai do direito das gentes,
principalmente pela originalidade dos conceitos abordados como Estado e
soberania, bem como na forma como realizou tal exame, em sua principal obra De
Jure Belli ac Pacis, de 1625.
Era um
conturbado momento nas relações internacionais pelo início da Guerra dos Trinta
Anos (1618-1648) e, assim, via a necessidade de estabelecer um direito posto
acima dos Estados para que disciplinasse as relações internacionais, inclusive
o andamento da guerra.
Chama-se
poder soberano quando seus atos não dependem da disposição de outrem, de modo a poderem ser anulados a
bel-prazer de uma vontade humana estranha.”
(GROTIUS, 2005)
“Por isso tive numerosas e graves razões para
me determinar a escrever sobre o
assunto. Via no universo cristão uma leviandade com relação à guerra que teria deixado envergonhadas as próprias nações
bárbaras.
Por
causa fúteis ou mesmo sem motivo corria
às armas e, quando já com elas às mãos, não se observava mais respeito algum para com o direito divino nem
para com o direito humano, como se, pela
força de um edito, o furor tivesse sido desencadeado sobre todos os crimes.”
(GROTIUS, 2005).
Gentili
havia rechaçado os teólogos da abordagem das questões jurídicas, a Grotius é
habitualmente atribuído o crédito de ter avançado ainda mais com o projeto
secularizador no direito das gentes (HESPANHA,
2014), ao propor um direito natural que teria lugar mesmo que Deus não existisse (GROTIUS, 2005);
ou ainda, um direito natural
[...]
tão imutável que não pode ser mudado nem pelo próprio Deus. [...] Do mesmo modo,
portanto, que Deus não poderia fazer com
que dois mais dois não fossem quatro, de
igual modo ele não pode impedir que
aquilo que é essencialmente mau não seja
mau. (GROTIUS, 2005).
Grotius
concebe o direito natural, que embora primariamente proveniente de Deus, dele prescinde, depois de
inscrito na natureza humana. Esse
direito não poderia deixar de ser universal, pois inerente na própria natureza do homem, e, portanto,
imponível a todos.
Considerando
que a razão é a essência da natureza humana, o direito natural é ditado pela rectae rationis
(VILLEY, 2009
De
fato, os princípios desse direito, se for dada a atenção, são claros e evidentes de per si,
quase tão claros como as coisas que
percebemos pelos sentidos externos, os quais não enganam se os órgãos da
sensação estiverem bem conformados e se
não carecem de tudo que é necessário para a percepção.” (GROTIUS, 2005).
Na
base desse direito natural, está a sociabilidade natural dos homens – apettitus societatis -,
conforme afirma: “Este cuidado pela vida social, [...] que está conforme ao
entendimento humano, é o fundamento do
direito propriamente dito” (GROTIUS, 2005). Sendo o dever de sociabilidade o próprio fundamento do direito
natural, aparece na concepção de
direito, em Grotius, um ideal de interdependência e equilíbrio entre as unidades políticas.
“O
direito natural nos é ditado pela reta razão que nos leva a conhecer que uma ação, dependendo se é ou não conforme à
natureza racional, é afetada por deformidade
moral ou por necessidade moral e que, em decorrência, Deus, o autor da natureza, a proíbe ou a ordena.” (GROTIUS,
2005)
“Quanto
ao homem feito, capaz de reproduzir os mesmos atos a respeito de coisas que tenham relações entre elas, convém
reconhecer que ele possui nele mesmo um
pendor que o leva ao social, para cuja satisfação, somente ele, entre todos os animais, é dotado de um instrumento
particular, a linguagem. É dotado também
da faculdade de conhecer e de agir, segundo princípios gerais, faculdade cujos atributos não são comuns a todos os
seres animados, mas são a essência da natureza
humana.” (GROTIUS, 2005).
O
direito das gentes, por sua vez, decorre do direito natural, e com ele não se confunde. Com efeito, do
direito natural, extraem-se princípios
que regularão a condutas, tanto dos indivíduos, como dos povos; no entanto, considerando que tais
axiomas não são suficientes na prática,
as regras que não podem ser deduzidas estritamente dos primeiros princípios, terão seu fundamento no consenso
dos povos (VILLEY, 2009). Grotius é claro nesse sentido:
“[...]
do momento em que diversos indivíduos em tempos e lugares diferentes, afirmam a mesma coisa como certa, deve-se conectar esta coisa
a uma causa universal. Essa causa, nas
questões que nos ocupam, só pode ser uma
justa consequência procedente dos
princípios da natureza ou um consenso
comum. A primeira nos revela o direito da
natureza, o segundo, o direito das gentes”.
A diferença que existe entre ambos deve ser distinguida não através dos próprios termos
(pois os autores confundem os termos
referentes ao direito natural e ao
direito das gentes), mas deve ser entendida
através da qualidade da matéria. De fato, quando através de princípios certos uma coisa
não pode ser deduzida por um raciocínio
correto e, contudo, parece ser observada
em todos os lugares, segue-se que ela
deve ter sua origem na vontade livre dos
homens.” (GROTIUS, 2005).
[...]
o direito não foi estabelecido em vista da utilidade, não há nação tão forte que, às vezes, não possa ter necessidade do
auxílio das outras, seja com relação ao
comércio, seja até para rechaçar os esforços de várias nações estrangeiras unidas contra ela.
Por
isso, vemos os povos e os reis mais poderosos buscam alianças que não possuem qualquer eficácia,
segundo a opinião daqueles que encerram
a justiça dentro dos limites de cada Estado. Tanto isso é verdade que todas as coisas se tornam incertas a partir do
momento em que se bane o direito.” (GROTIUS,
2005)
Trata-se,
portanto, um direito voluntário (GROTIUS, 2005), que informado pelo dever de
sociabilidade, é pactuado pelos povos,
seja através de um direito convencional, seja um direito
consuetudinário.
Não
obstante o fato do direito das gentes ser proveniente do consenso entre as nações, isso não lhe retira o
caráter de universal; pelo contrário,
segundo a teoria grociana, trata-se de um consenso universal, pois observado por todos os povos.
Conforme
adiantado no trecho acima, o jurista
parte do pressuposto que, como são afirmadas por indivíduos de tempos e lugares de modo uniforme, sua
validade como direito também será.
Entretanto,
cabe verificar qual o exercício metodológico
Grotius emprega a fim de identificar tais regras que conformam o
direito das gentes, isto é, como Grotius
encontra esse consenso; pelo que
responde:
“A história tem uma dupla utilidade para nosso
tema. Ela fornece exemplos e apreciações. Os exemplos têm tanto mais autoridade porque
são extraídos dos melhores tempos e dos
melhores povos. Por isso preferimos os
antigos exemplos dos gregos e dos
romanos aos outros”. (GROTIUS, 2005).
O
jurista utiliza-se de exemplos que, ao apontarem para uma mesma direção, indicam a existência de
uma regra. Não é preciso reiterar muito
a situação paradoxal que, da mesma forma que Gentili, estabelece-se aqui: Grotius sustenta-se
preponderantemente nas tradições romana
e grega, passadas e particulares a uma região pequena do orbe, para conceber sua teoria de direito das
gentes universal; deixando claro,
inclusive, que tem preferência por eles, considerados ‘melhores povos’.
Não é
sem razão que eu disse “as nações mais
civilizadas”, pois o mesmo é sublinhado com exatidão por Porfírio: “Há povos selvagens
e mesmo desumanos, a respeito dos quais
juízes sensatos não devem tirar
consequências para se indispor contra a
natureza humana. ”.
Andrônico
de Rodes diz que “para os homens dotados
de um espírito justo e sadio, o direito
que chamamos de direito da natureza é
imutável. Se indivíduos de espírito
doentio ou esquisito pensam de outra
forma, isto não importa.
Com
efeito, aquele que afirma que o mel é
doce não mente só porque os doentios não
acreditam que o seja. ” Esta passagem de
Plutarco em “Vida de Pompeu” não afasta desses
princípios: “Nenhum homem é ou foi por sua natureza um animal selvagem ou insociável,
mas ele se torna cruel a partir do
momento em que :
” O
mesmo filósofo diz em outra passagem: “para
julgar o que é natural, é necessário examinar as coisas que sem comportam
convenientemente segundo a natureza e
não aquelas que são corrompidas. ”.
(GROTIUS, 2005).
Essa é
a primeira vez que a expressão ‘nações civilizadas’ aparece entre os fundadores
do direito internacional. Em Gentili, a palavra
‘civilizado’ aparece para descrever um determinado modo de comportamento, com características de honradez
e cortesia, mesmo que fosse atribuído,
em regra ao povo europeu.
Entretanto,
Grotius ao articular o adjetivo
‘civilizado’ com nações, vai além do mero sentido comportamental, pois confere ao povo europeu
uma unidade, cujo elemento agregador são
esses costumes comuns.
Essa
unidade, por sua vez, surge em
contraposição à sua exterioridade, que como ele mesmo coloca, caracteriza-se pela selvageria e
insociabilidade.
Além
disso, ao conferir unidade ao povo,
através da expressão ‘nações civilizadas’,
Grotius está também antecipando o conceito de civilização; que é
tomado como sinônimo posteriormente, na
medida em que representa a sociedade
europeia como um todo. Por sua vez, a palavra ‘bárbaro’ continua
tendo um sentido muito próximo daquele concebido
em De Iure Belli.
A
partir dessa diferenciação entre as ‘nações civilizadas’ e aquelas consideradas selvagens, cujos atos são
desumanos, Grotius sente-se autorizado a
desconsiderar os costumes das segundas, pois contrárias ao que é natural, para
utilizar apenas os costumes das primeiras; como
esclarece aqui:
O
direito mais amplo é o jus gentium, isto é, aquele que recebeu sua força obrigatória da vontade
de todas as nações ou de um grande
número delas.
Acrescentei
“de grande número” porque, à exceção do
direito natural, que costumamos chamá-lo
também jus gentium (direito das gentes), não encontramos praticamente direito que seja
comum a todas as nações. (GROTIUS, 2005)
existe um direito natural inerente a todos os homens, o qual é evidente de per se.
Todavia,
os comportamentos que se desviarem do
padrão europeu, serão considerados antinaturais, e, portanto, desconsiderados da apreciação das regras do
direito das gentes.
E,
de qualquer forma, embora sejam
recusadas daquele consenso, que é tudo menos universal, nem por isso deixam de
estar obrigadas por esse mesmo direito.
É
através desse discurso, que Grotius
justifica o ius communicationis, deste derivando o direito de comércio - praticamente, obrigação
de comércio, posto que não é dado a
ninguém recusar. “A natureza do homem que nos impele a buscar o comércio recíproco com nossos semelhantes,
mesmo quando não nos faltasse
absolutamente nada, é ela a própria mãe do direito natural. ” (GROTIUS, 2005); e derivando também o direito
de passagem (GROTIUS, 2005), acompanhando Gentili ao não concluir pela invariabilidade desse direito.
Ao
dissertar sobre a propriedade, é possível
perceber que Grotius introduz nuances de uma temporalização. Faz
isso quando faz um histórico da
propriedade, no qual estabelece uma
transformação sobre o direito de patrimônio das coisas, em tom eminentemente evolutivo.
Não é interessante pelo simples fato de Grotius contar uma história evolutiva da
propriedade, em que o grau atual é mais
cômodo que o passado. A novidade está em enxergar no índio americano esse estágio pretérito; o indígena
não é apenas inferior culturalmente, mas
atrasado.
Trata-se
da gênese da concepção evolutiva no âmbito do direito das gentes. O vocabulário utilizado por
Grotius permite perceber a concepção de
uma linha evolutiva e linear, retratando um estágio pelo qual o povo europeu já superou, mas os povos
americanos “persistiram sem
inconvenientes nessa forma de viver”.
A
partir do século XVIII, é iniciada uma transição que alterará o significado dos termos ‘selvagem’, ‘bárbaro’
e ‘civilizado’, notadamente pelo
aparecimento do neologismo ‘civilização’.
Inicia-se
com a definição encontrada nos dicionários, que
obviamente, não dá conta da multiplicidade de significados que um conceito como ‘civilização’ carrega; todavia,
pode servir como ponto de partida, para
se identificar os primeiros elementos a serem abordados.
Assim,
toma-se o verbete conforme dicionários franceses do século XIX, servindo de referência para as abordagens que
seguem. Coincidentemente, os dicionários
pesquisados, ainda que separados
cronologicamente, trazem a mesma e breve definição: “ato de civilizar, e estado de quem é civilizado”.
Embora
econômica, a definição permite relevantes considerações, tanto em relação à semântica, quanto ao
léxico. Quanto a esse aspecto, partindo
da breve definição é possível notar que os dicionários se valem de outras duas palavras, integrantes da mesma
família léxica, para explicar seu
significado: o verbo ‘civiliser’ e o adjetivo ‘civilisé’.
A remissão, portanto, indica a preexistência
de tais palavras (FEBVRE, 1929), das
quais o substantivo ‘civilisation’ deriva-se por sufixação. De fato, ‘civilizado’ é encontrado pela
primeira vez no século XVI, derivado de
civilidade – civilitate (STAROBINSKI, 2001);
O
vocábulo ‘civilizar’, como ato de tornar ‘civilizado’, nasce posteriormente; ou
seja, as raízes etimológicas da palavra
civilização nascem quatro séculos antes.
Seguindo
na apreciação da breve definição dos dicionários franceses, os quais contêm alguns indicativos
a auxiliar na identificação dos
elementos que montam o mosaico conceitual de civilização.
Analisando
as definições, agora sob o aspecto semântico, é possível identificar a existência de dois significados
distintos, mas interdependentes: 1) o
ato de civilizar, e 2) estado de quem é civilizado.
Isto
é, apresenta, respectiva e simultaneamente, uma ação e um estado; de forma que civilização é exposta, portanto,
como o processo de civilizar, e também,
como o resultado do próprio processo.
Até
meados do século XVII, a percepção teológica continuou limitando o horizonte de expectativa; o que
só foi alterado quando o conceito de
progresso começou a tomar forma (KOSELLECK, 2006), em consonância com o
aparecimento dos primeiros pensamentos
que inauguram a ciência moderna, como, em 1620, com Novum Organum, de Francis Bacon
(MANIERI, 2013).
Em Bacon, o progresso é assimilado com o
crescimento orgânico, isto é, o
envelhecimento que torna o ancião, por maturidade e experiência,
mais sábio que o jovem (KOSELLECK;
MEIER, 1992).
A
palavra progresso, em si, só será cunhada no século seguinte (KOSELLECK; MEIER, 1991); de qualquer forma,
o conceito já estava em gestação, e
recebe outro impulso em Scienza Nuova, de 1725,
do italiano Giambattista Vico, que pretendia, em sua obra, achar um
sentido para a história universal.
Assim,
considerando especialmente critérios
culturais, como religião e mitologia, concebe uma escala evolutiva de três estágios: era dos Deuses,
era dos Heróis, e Era dos Homens; em que
cada idade possui seus elementos correspondentes de direito, formas de governo e representação
social.
“Nasce,
desse modo, uma noção de progresso que só a ciência moderna pode trilhar. A ‘esperança implica esse
contentamento um futuro promissor, num além que pode ser realizado.
[Francis]
Bacon defende a ideia que só no âmbito da ciência pode-se conceber a noção de progresso:
‘[...] porque aquilo que tem o seu fundamento
na natureza cresce e se desenvolve, mas o que não tem outro fundamento que a opinião varia, mas não progride.
’.
Pedra
fundamental essa lançada por Bacon e
que, ao que tudo indica será a base de toda concepção moderna de desenvolvimento. Com essa ideia,
gera-se a cisão entre os homens do século XVII e os antigos.
Enfim,
até o fim do século XVIII, o conceito de progresso assumiase como a síntese da
temporalidade moderna. Não mais limitada pela noção teológica de tempo, sempre
receosa da iminência apocalíptica; o tempo
abria-se, infindamente. A nova temporalidade, porém, não influenciava apenas o horizonte de
expectativas, ou seja, futuro; com efeito,
a própria experiência história passava a ser interpretada a partir do conceito de progresso.
O
Iluminismo e a Revolução Francesa haviam causado um surto de experiência verbalizado
por termos como ‘história em si’,
‘processo’, ‘revolução’ e também
‘progresso’ ou ‘desenvolvimento’ Todos
eles representavam novos
conceitos-chave, cujo traço comum residia na precondição conscientemente refletida que
todo acontecimento era estruturado de
forma especificamente temporal.
(KOSELLECK, 2014).
O
conceito de civilização seguia exatamente essa condição; não é fortuito que Starobinski afirme que
“civilização e progresso são termos destinados
a manter as mais estreitas relações. ” (2001). A noção de civilidade já não dava conta de expressar
as diferenças entre os povos; passa,
portanto, por uma dinamização que culmina no neologismo civilização, conforme explica Benveniste:
Da
barbárie original à condição atual do homem na sociedade, descobria-se uma gradação universal,
um lento processo de educação e de
refinamento; para resumir, um progresso
constante na ordem daquilo que a civilité,
termo estático, já não era suficiente
para exprimir, e a que era realmente preciso
chamar civilisation, para lhe definir em conjunto o sentido e a continuidade. Não era somente uma visão histórica da sociedade; era também uma interpretação otimista e decididamente não teológica da sua evolução
que se afirmava [...]. (BENVENISTE,
1991)
O
primeiro registro da palavra civilização – civilisation - é atribuído ao Marquês de Mirabeau, em seu L’Ami
des Hommes, de 1756.
Entretanto,
o uso ambíguo e escasso por Mirabeau, não permitiu que sua definição, que tomava a religião como
principal móvel da civilização, fosse
consolidada como conceito definitivo. Com efeito, o conceito de civilização surge para representar justamente
o contrário, como um substituto
laicizado da religião (STAROBINSKI, 2001).
O
conceito que restará consagrado será aquele retratado pelo Marquês de Condorcet, em Esquisse d’un
tableau historique des progrès de
l’esprit humain, de 1794. Nessa obra, prenunciando o positivismo científico inaugurado poucas décadas depois
(LÖWY, 2013).
Condorcet
pretende, através da “observação sucessiva das sociedades humanas nas diferentes épocas que elas
percorreram”, identificar as leis gerais
e constantes que regem o progresso das sociedades, o qual é ilimitado, pois “a natureza não indicou nenhum
termo ao aperfeiçoamento das faculdades
humanas”, “a perfectibilidade do homem é
realmente indefinida” (1993).
Para
Condorcet, havia um processo evolutivo, único e linear, que regia a história de
todos os povos, “de uma sociedade grosseira ao estado de civilização dos povos
esclarecidos e livres” (1993).
Esse
processo evolutivo chama-se civilização, assim como o resultado do mesmo, no qual, segundo o trecho,
encontram-se os povos atuais da Europa,
isto é, no topo da escala evolutiva. Por sua vez, os povos que não atingiram esse grau de
aperfeiçoamento, “cuja história se conservou
até nós”, estão estagnados no processo. Dessa forma, como os povos europeus já passaram por todo esse
percurso, poderiam adiantar toda
história dos povos estagnados, facilitando suas vidas ao ensinar esse modo ‘civilizado’ de vida.
Condorcet,
no entanto, mostra-se contrário ao modelo de colonização empreendido até então, justificado
na necessidade de conversão dos
habitantes à religião cristã. Conforme Starobinski, o conceito de civilização assume-se como o novo
fundamento da colonização, revestido com
autoridade quase sagrada – “em nome da civilização” – praticamente suplanta o
lugar que a religião ocupava dentro do
discurso imperialista (2004).
Em Esquisse,
Condorcet apresenta-se bastante crítico com relação à religião cristã, a qual atribui o motivo da estagnação
medieval, um “período desastroso”:
“O
desprezo pelas ciências humanas era um dos primeiros caracteres do cristianismo. Ele precisava se vingar dos
ultrajes da filosofia; ele temia este espírito
de exame e de dúvida, esta confiança em sua própria razão, flagelo de todas as crenças religiosas.
A luz
dos conhecimentos naturais era-lhe odiosa e suspeita, pois eles são muito perigosos para o
sucesso dos milagres; e não há nenhuma
religião que não force seus seguidores a devorar alguns absurdos físicos. Assim, o triunfo do cristianismo foi
o sinal da inteira decadência tanto das
ciências quanto da filosofia. ” (CONDORCET, 1993) antes mesmo de iniciar o
século XIX,
Codorcet
já fornece os contornos do que virá a ser o “white man’s burden”, o dever de civilizar – como
algo de espírito caridoso e altruísta. Em menos de uma década após o
aparecimento na literatura francesa, o
correspondente do termo na língua inglesa é encontrado. Atribui-se o primeiro
registro da palavra civilização no léxico inglês ao teórico escocês Adam Ferguson, em
seu Essay on History of Civil
Society.
Segundo
Benveniste, existem indícios que a palavra existia mesmo antes: “Encontramos uma indicação nesse sentido numa
carta de David Hume a Adam Smith, datada
de 12 de abril de 1759, para recomendar-lhe “o nosso amigo Ferguson” com vistas a um posto na
Universidade de Glasgow.
Hume
escreve a favor do amigo: “Ferguson
poliu muito e melhorou o seu tratado sobre
Refinement e com algumas emendas fará um livro admirável; revela
um gênio elegante e singular”. Ora, uma
nota de Dugal-Stewart mostra-nos que esse tratado On refinement foi publicado em 1767
sob o título de An Essay on the history of
civil society.” (BENVENISTE, 1991)
A obra
publicada em 1767, pretendia investigar o progresso da humanidade e assim
descobrir o princípio que governa essa evolução; de modo que na primeira página da obra já
adianta: “Não apenas os passos individuais da infância à fase adulta, mas os da
própria espécie, da rudeza a
civilização. ” (FERGUSON, 1995).
A
visão evolutiva, baseado no progresso da sociedade, não estava implícita na obra de Ferguson, na verdade, era
justamente isso que propunha. A história
conjectural, que através de uma observação empírica das sociedades concebia uma escala
evolutiva, pela qual a humanidade
movia-se sucedendo estágios, era lugar comum no movimento filosófico conhecido como Iluminismo
escocês, do final do século XVIII
(GARRET, 2003).
Considerando
a importância do Iluminismo escocês e a repercussão
de suas ideias em toda Europa, a insistência do movimento na utilização da palavra – além de Smith e
Ferguson, John Millar também fazia uso frequente – acabou por consolidá-la
definitivamente no vocabulário europeu.
Pelo
último quartel do século XVIII, civilization já era livremente utilizada nos círculos
acadêmicos da Inglaterra e Escócia, denotando
um processo evolutivo e, simultaneamente, o último estágio dele; a ponto de John Stuart Mill, em 1836, dedicar um ensaio somente ao tema, intitulado Civilization.
Mill sustenta que a palavra civilização
pode ter dois sentidos: um restrito, indica o progresso humano em geral, e outro, para
certos tipos de avanços particulares.
Basicamente,
o ensaio de Mill coloca o desenvolvimento econômico como o motor da civilização moderna.
(MAZLISH, 2004).
O
sentido atribuído por Mill, bem como dos teóricos do Iluminismo escocês, os quais concebiam o comércio como o
último estágio do processo, permitem
integrar ao conceito de civilização o desenvolvimento essencialmente material, isto é, o progresso
técnico, o crescimento industrial, a
expansão do comércio.
O
ápice da teoria evolucionista que, com efeito, influenciava todos os ramos da cultura letrada europeia, deu-se
com cientificismo cultuado no século
XIX, e impulsionada pelo positivismo de Auguste Comte.
Seu
principal feito, foi transpor a justificativa do primitivismo, do atraso dos povos não europeus, de uma explicação
estritamente cultural, pois relativo ao
ambiente social de cada sociedade, para uma explicação biológica.
A
diferença cultural era naturalizada; eram inferiores porque eram raças primitivas. Assim, o ‘selvagem’ e
o ‘bárbaro’ eram articulados na linha da
evolução do gênero humano, em uma ordem
hierárquica das raças.
Paradoxalmente,
a secular racionalidade científica promovia a
sacralização do discurso civilizatório, de modo a torná-lo um dogma,
e um fim em si mesmo.
De
fato, o lema positivista composto razão, ordem e progresso , como percebe Sanchez Arteaga,
sintetizava os valores do século XIX: a
tríade composta pela racionalidade científica, ordem econômica burguesa e o progresso tecnológico
eram os fatores da civilização.
Existem
duas grafias em inglês para a palavra: a britânica civilisation, e a Norte-americana civilization. Para
diferenciar da grafia francesa civilisation, quando referido ao termo em inglês,
utilizar-se-á civilization.
A
visão evolutiva, baseado no progresso da sociedade, não estava implícita na obra de Ferguson, na verdade, era
justamente isso que propunha. A história
conjectural, que através de uma observação empírica das sociedades concebia uma escala
evolutiva, pela qual a humanidade
movia-se sucedendo estágios, era lugar comum no movimento filosófico conhecido como Iluminismo
escocês, do final do século XVIII
(GARRET, 2003).
Ferguson,
de forma elementar e sem enfatizar as
causas e os mecanismo de mudança, concebia três estágios: selvagem, bárbaro e polido.
Porém,
foi “An inquiry into the nature and
causes of wealth of nations”, de 1776, que inclusive denota o emprego de civilization com naturalidade por
Adam Smith, que consagrou a teoria dos
estágios evolutivos em, subsequentemente, caça, pastoreio, agricultura e comércio.
Sobressai
a associação do conceito de civilização,
preponderantemente, com um progresso econômico e do governo, estabelecendo o atraso ou avanço de
uma nação através de observação
“empírica” da riqueza e das instituições políticas, em comparação com as europeias. De fato, esse
será um aspecto que o Iluminismo escocês
deixará incrustrado de modo permanente no conceito de civilização.
O
ensaio de Mill coloca o desenvolvimento
econômico como o motor da civilização moderna. (MAZLISH, 2004). O sentido atribuído por Mill, bem como dos
teóricos do Iluminismo escocês, os quais concebiam o comércio como o último
estágio do processo, permitem integrar
ao conceito de civilização o desenvolvimento
essencialmente material, isto é, o progresso técnico, o crescimento industrial, a expansão do comércio.
Quer
dizer, acompanhada da temporalização do conceito, que forneceu dinamicidade ao ‘civilizado,
colocando-o como resultado de um
processo, ocorreu uma ressignificação simultânea do termo. ‘Civilizado’
deixa de ter exclusivamente o significado de comportamento, abrandamento dos
costumes, para assumir o resultado do progresso
material de um povo.
A
partir do conceito de civilização, ao sentido de polido e educado será agregado o de
desenvolvimento material, representando
significado de mais avançado na escala evolutiva.
Da
mesma forma, seu antônimo também passa pela
temporalização. Dentro do processo civilizador, dizer ‘bárbaro’ não significará apenas inferioridade, em razão de
civilidade, mas um verdadeiro atraso na
linha evolutiva, que permite classificá-lo como
primitivo, pois privado de todas as técnicas do povo europeu.
De
fato, uma visão que já estava incrustada
no pensamento de John Locke, basta lembra sua célebre frase em Two Treatises of Government,
de 1690, de que “no começo, todo mundo
era América”; mas que na transição do século XVII para o XIX era colocada em termos precisos.
O povo
europeu era a medida para todas as coisas; o padrão de referência. As sociedades não europeias eram julgadas
tanto mais inferiores, quando maior
fosse o grau de diferença com o europeu.
De
forma que foi estabelecida um processo único, linear progressivo e universal, aplicado a todas as sociedades,
que, partia do estágio mais primitivo, o
‘selvagem’, passava pelo ‘bárbaro’ intermediário, e finalmente, chegava ao máximo grau de
aperfeiçoamento, o europeu ‘civilizado’.
A
depreciação dos povos não europeus, retratados como bárbaros e selvagem pela
doutrina do direito das gentes, operava violência simbólica, na medida que, de
plano, rejeitavva tudo que advindo daquelas culturas, logo seu conhecimento era
desprezado, sua noção de normatividade completamente ignorada, enfim todos os
aspectos da cultura foram julgados como inferiores, e, então, inúteis. A violência
simbólica, por sua vez, acabava por ratificar a violência real, efetiva
empreendida pela exploração colonial.
Enfatizando-se
as pretensões universalistas, a atitude eurocêntrica e subjugação do outro,
presentes no discurso jurídico internacionalista moderno. Apesar que não são
articuladas em conformidade com as mudanças ocorridas tanto na fundamentação
teórica do direito, quanto ao interno dos conceitos usados para referir aos
povos extraeuropeus.
Quando
ocorreu a Revolução Industrial deu-se uma aceleração da história e
experimentamos avanços técnicos promovidos pelo Iluminismos escocês e francês.
Estabelecia-se uma nova temporalidade,
linear, aberta e progressiva, destinada a influenciar todos os aspectos do cotidiano oitocentista. Assim,
todos os fatos humanos passaram a ser
interpretados sob a ótica evolucionista, inclusive o direito.
No
âmbito do direito internacional, impõe-se a concepção historicista e o direito do presente é assumido como o ápice
de um processo linear e evolutivo. Por
sua vez, o próprio direito é apresentado pelos juristas oitocentistas como o desenvolvimento natural
do processo evolutivo das sociedades, de
modo que aquelas sociedades que não têm concepções jurídicas idênticas são consideradas
atrasadas.
Dessa
forma, a pretensão universalista do direito internacional é reconfigurada pela
retórica do desenvolvimento inexorável de qualquer sociedade. Isto é, todas as nações, mais cedo
ou mais tarde, acabariam concebendo o direito internacional, portanto sua
imposição é, na verdade, um
adiantamento. Assim, o direito internacional impõe-se a todo o planeta, porém não de forma uniforme. Com efeito,
algumas nações ainda não estariam
prontas para estabelecer relações em igualdade e reciprocidade.
Seguindo
esse padrão evolutivo, os termos utilizados para retratar a exterioridade europeia passam por uma
temporalização, na qual os conceitos
‘civilizado’, e suas antíteses, ‘bárbaro’ e ‘selvagem’, até então estáticos, são reposicionados como estágios
de uma linha evolutiva, em que o grau
mais avançado é onde se encontra o povo europeu, adiantado o suficiente para conceber o direito
internacional. A atitude eurocêntrica está em tomar o europeu como modelo, de
forma que quanto maior a diferença de
uma cultura com relação à europeia, tanto maior será o seu retardamento.
Afinal, o direito internacional, desde suas bases pré-modernas, mantém, ao menos até o século XIX, uma pretensão universalista, que se demonstra como uma estratégia retórica para subjugar os povos não europeus. Dessa forma, através um processo violento de colonialismo e dominação, acaba por expandir e universalizar esse direito eurocêntrico, que sufoca outras formas possíveis de organizar-se politicamente e de regular o espaço internacional.
Referências
ARISTÓTELES.
A Política. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
CONDORCET,
Marquês de. Esboço de um quadro histórico dos
progressos
do espírito humano. Campinas: UNICAMP, 1993. [1794]
CONTUZZI,
Francesco C. STATO (Diritto internazionale). In: Il
Digesto italiano. Enciclopedia metodica
e alfabetica di Legislazione, Dottrina e
giurisprudenza. Vol. XXII. Parte Seconda. Torino: Unione Tipografico
Editrice, 1895. p. 13-123.
FERGUSON,
Adam. An Essay on the History of Civil Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
[1767]
GENTILI,
Alberico. O direito de Guerra. De Iure Belli Libri Tres.
Ijuí: Unijuí, 2005. [1598]
GROTIUS,
Hugo. O Direito da Guerra e da Paz. De Jure Belli ac Pacis. 2 volumes. Ijuí: Unijuí, 2005. [1625]
INTERNATIONAL
COURT OF JUSTICE. Statute of the Court. Disponível em:
LAS
CASAS, Bartolomé; SEPULVEDA, Juan Gines. Apologia. Traducción de Angel
Losada. Madrid: Editora Nacional, 1975.
LORIMER,
James. The institutes of the law of nations. A treatise of
the jural relations of separate
political communities. Edinburgh and London:
Blackwell. 1883-1884. international purposes. Introductory lecture.
Edinburgh: Edmonston and Douglas, 1876.
MANCINI,
Pasquale. De’Progressi del Diritto nella società, nella legislazione e nella scienza durante l’ultimo
secolo. In: rapporto
co’principi e con gli ordini liberi. Torino: Stamperia Reale, 1859.
MAQUIAVEL
[MACHIAVELLI, Niccolò]. Il principe. Torino: Enaudi, 1961.
MAZZINI,
André-Louis. De L’Italie dans ses rapports avec la liberte et la
civilisation moderne. Leipzig: Brockhaus & Avenarius, 1847.
MILL,
John Stuart. Civilization. In: ______. Essays on
Politics and Society. Toronto:
University of Toronto, 1977. p. 117-148. [1836]
OPPENHEIM,
Lassa. International Law: a treatise. First edition.
London: Longmans, Green and Co., 1905.
ROQUEFORT-FLAMÉRICOURT,
Jean-Baptiste-Bonaventure de. Dictionnaire
étymologique de la langue Françoise. Paris: Decourchant, 1829.
SAVIGNY,
Friedrich Carl von. La vocazione del nostro tempo per la legislazione e
la giurisprudenza. p. 87-197. In: SAVIGNY, Friedrich Carl von; THIBAUT, Anton Friedrich Justus. La
polemica sulla codificazione. A cura di Giuliano Marini. Napoli: Edizione Scientifiche
Italiane, 1982.
______.
Stimmem für wider neue Gesetzbücher (in <
MAZZACANE,
Aldo. Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema. Napoli: Liguori, 1976.
p. 104-113.
______.
Sistema do Direito Romano Atual. Vol. VIII. Ijuí: Unijuí, 2004. [1849]
SEEBOHM,
Frederic. On International Reform. London: Longmans,
Green
and Co, 1871.
SCARABELLI,
Ignazio. Diritto Internazionale (Pubblico e Privato). In: MANCINI, Pasquale; PESSINA, Enrico. (A cura
di). Enciclopedia Giuridica Italiana.
Vol. IV, Parte V – Diritto – Divisibilità. Milano: Società Editrice Libraia, 1912. 356-384.
DAL RI
JUNIOR, Arno. História do Direito Internacional. Comércio e Moeda. Cidadania e Nacionalidade.
Florianópolis: Fundação Boiteux,
2004.
______.
Evolução histórica e fundamentos político-jurídicos da cidadania. In: ______.; OLIVEIRA,
Odete Maria de. Cidadania e Nacionalidade.
Efeitos e persperctivas – nacionais – regionais – globais. Ijuí: Unijuí, 2002. p. 25-84.
DROIT,
Roger-Pol. Genealogía de los bárbaros. Historia de la inhumanidad.
Barcelona: Paidós, 2009.
DUSSEL,
Enrique. 1492: o encobrimento do outro. A origem do mito da modernidade. Petrópolis: Vozes, 1993.
ELIAS,
Norbert. O proceso civilizador. Uma história dos costumes. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
FEBVRE,
Lucien; TONNELAT, Émile; MAUSS, Marcel; NICEFORO, Alfredo; WEBER, Louis. Civilisation.
Le mot et l’ideé. Paris: La renaissance
du livre, 1930.
HALL,
Edith. Inventing the Barbarians. Greek self defition through
tragedy.
Oxford: Clarendon Press, 1989.
HARTOG,
François. Os antigos, o passado e o presente. Brasília :
Editora
da Universidade de Brasília, 2003.
______.
Evidência da História. O que os historiadores veem. Belo
Horizonte
: Autêntica, 2013.
HESPANHA,
António Manuel. Cultura Jurídica Europeia. Síntese de um milênio. Coimbra: Almedina, 2012.
_____.
Panorama Histórico da Cultura Jurídica Europeia. Síntese de um milênio. Florianópolis: Boiteux, 2005.
______.
A história do direito na história social. Lisboa: Horizonte, 1978.
______.
Hugo Grotius. In: DAL RI JUNIOR, Arno; VELOSO, Paulo Potiara de Alcântara; LIMA, Lucas Carlos.
(Orgs.). A Formação da Ciência do
Direito Internacional. Ijuí: Unijuí, 2014. p. 151-162.
HOBSBAWN,
Eric. J.. A era das revoluções. 1789-1848. São Paulo: Paz e Terra, 2013
KOSELLECK,
Reinhart; MEIER, Christian. Progresso. Venezia: Marsilio, 1991.
KOSELLECK,
Reinhart; MEIER, Christian; GÜNTHER, Horst; ENGELS, Odilo. O Conceito de
História. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
KOSELLECK,
Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro:
Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006.
LANDUCCI,
Sergio. Vico, Giambattista (Napoli, 1668-1744). In: Enciclopedia Garzanti di Filosofia. Milano:
Garzanti, 1981. p. 1190-1201.
LE
GOFF, Jacques. A civilização do ocidente medieval. Bauru: EDUSC, 2005.
LORCA,
Arnulf Becker. Eurocentrism in the History of International Law. In: FASSBENDER, Bardo; PETERS,
Anne. The Oxford Handbook of History
of International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012. p. 1034-1057.
LÖWY,
Michael. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen. Marxismo e positivismo na
sociologia do conhecimento. São
Paulo: Cortéz, 2013.
OTÁVIO,
Rodrigo. Os selvagens americanos perante o direito. São Paulo: Companhia
Editora Nacional, 1946.
PAGDEN,
Anthony. The Fall of Natural Man. The American Indian and the origins of comparative ethnology.
Cambridge: Cambridge University Press,
1982.
______.
La caída del hombre natural. El indio americano y los orígenes de la etnología comparativa. Madrid:
Alianza América, 1988.
______.
Dispossessing the barbarian: the language of Spanish Thomism and the debate over the property rights of
American Indians. In: ______. (Ed.). The languages of political theory in
early-modern Europe. Cambridge: Cambridge
University Press, 1990. p. 79-98 sociologia do conhecimento. São Paulo: Cortéz, 2013.
PROST,
Antoine. Doze lições sobre a história. Belo Horizonte: Autêntica, 2014.
RODRÍGUEZ
GERVÁS, Manuel José. La retórica del siglo IV: espacios de integración y exclusión del bárbaro. Studia
histórica. Historia antigua. N. 26,
2008. p. 149-165.
SAID,
Edward. Orientalismo. O Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
SALTER,
Mark. Barbarians and Civilization in International Relations. London: Pluto Press, 2002.
SCATTOLA,
Merio. Alberico Gentili (1552-1608). In: FASSBENDER, Bardo; PETERS, Anne. The Oxford Handbook of History
of International Law. Oxford: Oxford
University Press, 2012. p. 1092-1097.
SCHMITT,
Carl. O nomos da terra, no direito das gentes do jus publicum euroæum. Rio de Janeiro: Contraponto,
PUC-Rio, 2014.
STAROBINSKI,
Jean. As máscaras da civilização: ensaios. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
STEIGER,
Heinhard. From the International Law of Christianity to the International Law of the World Citizen –
Reflections on the Formation of the
Epochs of the History of International Law. Journal of the History of International Law. Vol. 3, 2001. p. 180-193.
THIRLWAY,
Hugh. The Sources of International Law. In: EVANS, Michael (Org.). International Law. Oxford:
Oxford University Press, 2010.
TODOROV,
Tzvetan. A Conquista da América. A questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
______.
O medo dos bárbaros. Para além do choque de civilizações. Petrópolis:
Vozes, 2010.
WHIGT,
Martin. Four seminal thinkers in International Theory. Machiavelli, Grotius, Kant and Mazzini.
Orford: Oxford University Press, 2005.
WHITE,
Hayden. As formas do estado selvagem. Arqueologia de uma ideia. In: ______. Trópicos do
discurso. Ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo: Edusp, 1994. p. 169-202.
WILLIAMS
JR., Robert A. The American Indian in Western Legal Thought. The Discourses of Conquest.
Oxford: Oxford University Press, 1990.
WOLKMER,
Antonio Carlos. Síntese de uma História das Ideias Jurídicas, da Antiguidade Clássica à
Modernidade. Florianópolis: Fundação
Boiteux, 2006.
______.
Introdução ao Pensamento Jurídico Crítico. São Paulo: Saraiva, 2012.
Notas:
[1]
As Guerras Médicas ocorreram entre 500-448 a.C., entre gregos e persas, pelo
domínio do Mundo Antigo. Pela primeira vez na história grega, as cidades-Estado
se uniram para se defenderem da invasão dos persas. A vitória da Grécia sobre a
Pérsia foi importante para os gregos conquistarem a hegemonia do Mundo Antigo.
"Por volta dos séculos VI e V a.C., o Império Persa estabeleceu um
processo de expansão territorial que abrangeu um amplo número de regiões dos
mundos Oriental e Ocidental. Esta sequência de conquistas militares atingiu o
litoral da Ásia Menor, lugar onde existiam algumas colônias de origem grega.
Inicialmente, a dominação dos persas sobre os povos daquela localidade
aconteceu sem maiores rumores. Contudo, essa coexistência harmoniosa logo ruiu."
[2]
Cristóvão Colombo em 1492 descobriu a
América, com efeito foi o primeiro que tocou nas ilhas de Cuba e de Porto
Ricoe, o primeiro que desembarcou na Ilha de São Domingos, a que deu nome de
Espanhola e, pouco depois verificou ser pelos indígenas chamada de Haiti. Na
mesma senda seguiu Pedro Álvares Cabral quando aportou em 1500 nas costas
brasileiras. Porém, nem um e nem outro realizou tais descobertas
deliberadamente. Colombo fora imbuído das ideias de Toscanéli, grande
cosmógrafo de seu tempo, que defendia o princípio de que todas as partes do
mundo conhecidas estaria cercadas de água, não esperava, atravessando o oceano
a chegar a um mundo novo