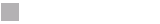A separação de poderes
Contemporaneamente, a separação dos poderes caracteriza a noção de Estado Constitucional Democrático e, não existe país democrático que não possua essa regra em sua Constituição. Ensinou Duguit ser a separação de poderes uma ilusão, desde ponto lógico por não se conceber, isto porque qualquer manifestação de vontade do estado exige o concurso de todos os órgãos que constituem a pessoa do Estado. Portanto, a separação dos poderes deve ser encarada como princípio de moderação, racionalização e limitação do poder político em prol da paz, da liberdade e da segurança, de acordo com as condições históricas de cada povo
Certamente a teoria da
separação dos poderes tem desempenhado um primordial papel na configuração do
chamado Estado Constitucional. Não obstante, ser separação, sabe-se em verdade
que o poder é exercido por vários órgãos, que possuem funções distintas.
Naturalmente, em razão dessa
teoria, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário são poderes políticos. A separação de poderes, em derradeiro passo,
visa manter a paz na sociedade e assegurar o gozo da liberdade, evitando a
arbitrariedade e autoritarismo, pode estar, nos dias contemporâneos, em cheque,
caso não se esclareçam, com melhor precisão as legítimas esferas de atuação de
cada poder.
Originalmente, foi com
Aristóteles[1],
filósofo grego que se tornou célebre por suas obras como a Metafísica, a
Física, a Ética a Nicômaco, a Política, Da alma, Da geração e da Corrupção e a
Poética.
A obra “Constituições” de Aristóteles teve como
objeto um estudo histórico e político de todas as formas de governo e de poder
existentes na época. Tal observação tomou por a base para Aristóteles elaborar
a sua obra mais completa, “A Política".
Foi na obra ´"Ética a
Nicômaco", Aristóteles definiu a política como sendo aquela que estrutura
as ações e as produções humanas e ensina que a ciência política utiliza as
ciências restantes e, mais ainda, legisla sobre o que devemos fazer sobre
aquilo de que devemos abster-nos.
Percebe-se que a ética e a política
se encontram intimamente unidas na obra de Aristóteles em que a ética resta
subordinada à política, ciência prática arquitetônica que tem por objetivo o
bem propriamente humano.
Aristóteles iniciou seu estudo
definindo o homem como animal cívico[2], mais social do que as
abelhas e os outros animais que vivem juntos.
O homem civilizado é o melhor de todos os animais, porém, aquele que não
conhece nem justiça, nem leis é o pior de todos.
Esse homem se reúne para
formar uma sociedade, pois de outro modo não poderia satisfazer suas
necessidades físicas e intelectuais. O respeito ao direito forma a base da vida
em sociedade e os juízes são seus primeiros órgãos.
Para Aristóteles, as
Constituições possíveis são justas e injustas, sendo as primeiras as que servem
ao bem-comum do povo e não só aos governantes e as segundas as que servem ao
bem dos governantes e não ao bem-comum. Nesse segundo caso, está-se tratando do
perecimento do Estado e da corrupção do regime político.
As Constituições justas são as
divididas em: monarquia, que é o governo deum só que cuida do bem de todos;
aristocracia, que é o governo dos virtuosos que cuidam do bem de todos, sem
atribuir-se privilégios; república, que é o governo popular que cuida do bem de
toda a cidade.
E as Constituições injustas
dividem-se em tirania, que consiste no governo de um só que procura o interesse
próprio; oligarquia, definida como o governo dos ricos que procuram unicamente
o bem econômico próprio; e democracia que consiste no comando da massa popular
em diminuir toda a diferença social.
Segundo Aristóteles o governo
é o exercício do poder supremo do Estado tendo todo governo três Poderes.
Definiu quais são os Poderes, a sua estrutura e as suas funções, cabendo ao
legislador prudente acomodá-los, da forma mais conveniente, e quando essas três
partes estiverem acomodadas é que o governo será bem-sucedido.
O cidadão será o homem adulto livre
e nascido no território da cidade ou do Estado e, também, aquele que participar
e votar diretamente nos assuntos políticos dos três poderes[3]. Ser cidadão é ter Poder
Legislativo, Executivo e Judiciário.
Para Aristóteles, o primeiro
Poder é o deliberativo, isto é, aquele que delibera sobre os negócios do
Estado. Esse Poder corresponde ao Legislativo, e a Assembleia tem a competência
sobre a praz e a guerra, realizar alianças ou rompê-las, fazer as leis e
suprimi-las, decretar a pena de morte, de banimento e de confisco, assim como
prestar contas aos magistrados.
O segundo Poder compreende
“todas as magistraturas ou poderes constituídos, isto é, aqueles de que o
Estado precisa para agir, suas atribuições e a maneira de satisfazê-las” (Aristóteles,
1991). Este Poder corresponde ao Poder Executivo, e é exercido por magistrados
governamentais, mas somente os que participassem do poder público é que
deveriam assim ser chamados.
Ensinou que as magistraturas
devem ser criadas para se formar um Estado. Quais são absolutamente necessárias
para que um Estado possa existir? Quais as que foram criadas para a “boa ordem
e para o bem-estar, sem as quais a vida civil não seria muito agradável?” (Aristóteles,
1991).
Afirmou que a diversidade das
formas de governo acarreta alguma diferença entre as funções das magistraturas.
Aponta as três questões principais para escolha dos magistrados: A quem cabe nomear os magistrados? De onde
devem ser tirados? E como proceder?
Respondeu às indagações
ensinando que as nomeações serão realizadas por todos cidadãos ou apenas alguns
entre eles; a elegibilidade é de todos ou apenas aqueles pertencentes a uma
classe determinada, quer pela renda, quer pelo nascimento, quer pelo mérito,
quer por alguma outra razão e a designação se dará ou por eleição ou por
sorteio.
O tempo de duração do
exercício destas também é discutido e declara que “alguns o pretendem
semestral, outros, mais curtos, outros, anual, outros, mais longo.
Resta também saber se deve haver
exercícios perpétuos ou mesmo de longa duração, ou, nem um nem outro; se é preferível,
ou que não assumam duas vezes o cargo, mas apenas uma. Quanto à escolha dos
magistrados, convém considerar a sua origem, por quem e como devem ser
escolhidos, de quantas maneiras isto pode ser feito e qual a que mais convém a
cada forma de governo.”
O terceiro Poder abrange os
cargos de jurisdição e, há oito espécies de tribunais e de juízes, quais sejam:
os tribunais para apresentação das contas e exame da conduta dos magistrados;
as malversações financeiras, os crimes de Estado ou atentados contra a
Constituição, as multas contra as pessoas, quer públicas, quer privadas, os
contratos de alguma importância entre particulares, os assassínios ou tribunal criminal;
os negócios dos estrangeiros e os juízes para os casos mínimos.
A forma de nomeação pode ser
por eleição ou por sorteio. Pra Aristóteles o julgamento acertado ocorre quando
uma pessoa julga segundo a verdade. Esse conceito é tratado em termos de
julgamento pessoal, mas poderá ser inserido no contexto de quem julga, pois o
próprio Aristóteles definiu que "cada homem julga corretamente os assuntos
que conhece, e é um bom juiz de tais assuntos.
Assim, o homem instruído a
respeito de um assunto é um bom juiz em relação ao mesmo e, o homem que recebeu
uma instrução global é um bom juiz em geral.
Assim, para o filósofo, é nas
Constituições que estão distribuídos ou ordenados os Poderes que existem num
Estado, ou seja, a maneira com são divididos, a sede da soberania e o fim a que
se propõe a sociedade civil.
Aristóteles afirmou que o
maior bem é o fim da política pois que supera todos os outros. O bem político é
a justiça, da qual é inseparável o interesse comum. A Justiça segundo a ética
aristotélica é como espécie de igualdade.
John Locke[4], um filósofo inglês do
século XVII teve como principais obras são o Primeiro Tratado sobre Governo Civil,
o Segundo Tratado sobre Governo Civil, Ensaio sobre o intelecto humano e Cartas
sobre a tolerância religiosa. E, a política fora estudada nos seus dois
tratados. O primeiro, sobre o governo civil, atacou aquilo que apontou como
"falsos princípios[5]", sob o fundamento de
que o direito divino da monarquia absoluta era baseado na descendência
hereditária de Adão e dos patriarcas.
No Segundo Tratado, sobre o
governo civil e outros escritos, o filósofo definiu o estado de natureza como
uma condição em que os homens são livres e iguais, uma condição natural dos
homens, ou seja, um Estado em que eles sejam absolutamente livres para decidir
suas ações, dispor de seus bens e de suas pessoas como bem entendessem, dentro
dos limites do direito natural, sem pedir autorização de nenhum outro homem nem
depender de sua vontade
Frise-se que Locke não
defendia a permissividade, pois o aludido estado de natureza é regido por um
direito natural que se impõe a todos e, com respeito à razão, que é este
direito, toda a humanidade aprende que, sendo todos iguais, e independentes,
ninguém deve lesar o outro em vida, em sua liberdade, ou seus bens.
Todos os homens são obras de
um único Criador todo-poderoso e infinitamente sábio, todos servindo a único
senhor soberano, enviados ao mundo por sua ordem e a seu serviço. São, portanto
sua propriedade, daquele que os fez e que os destinou a durar segundo sua
vontade e de mais ninguém.
Assegura que, no estado de
natureza, cada um tem “o poder executivo da lei da natureza” e cada homem é
juiz em causa própria. Isso produz confusão e desordem, e a solução para esse
impasse é o governo civil (Locke).
Já no Segundo Tratado, Locke
dividiu o poder do Estado em Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e
garante que tais poderes se convertem em dois.
A separação de poderes em
Locke é uma divisão do poder político soberania[6] em duas funções, uma
titularizada pela sociedade civil (o legislativo) e outra pela monarquia
constitucional (o executivo, conjugado a este o poder federativo, o de prerrogativa
e o judicial). Não havia a ideia de limitação do poder pelo poder, e por isso o
legislativo figurava como órgão supremo. Não obstante, a relação desses poderes
era de harmonia, interdependência e coordenação.
O Poder Legislativo, o Poder
Executivo e o Poder Federativo. E, a competência desse último Poder é a de
administrar a segurança e o interesse público externo e a competência do Poder
Executivo é a execução das leis internas.
E, afirmou que esses dois
poderes estão sempre unidos, apesar de serem distintos em si e dificilmente
devem ser separados e colocados ao mesmo tempo nas mãos de pessoas distintas,
pois submeter a força pública a comandos diferentes resultaria em desordem e
ruína. (Locke).
Para Locke, o Poder
Legislativo era o poder supremo em toda comunidade civil, sendo a primeira
atribuição a sociedade política criá-lo. Tem como a sua primeira lei natural a
própria preservação a sociedade, e na medida em que assim o autorize o poder
público de todas as pessoas que nela se encontram.
“O poder absoluto arbitrário,
ou governo sem leis estabelecidas e permanentes, é absolutamente incompatível
com as finalidades da sociedade e do governo, aos quais os homens não se
submeteriam à custa da liberdade do estado de natureza, senão para preservar
suas vidas, liberdades e bens...”
De acordo com Locke, os
limites que se impõem ao Poder Legislativo são quatro, quais sejam:
1º) as leis devem ser
estabelecidas para todos igualmente, e não devem ser modificadas em benefício
próprio;
2º) as leis “só devem ter uma
finalidade: o bem do povo”;
3º) não deve haver imposição
“de impostos sobre a propriedade do povo sem que este expresse seu
consentimento, individualmente ou através de seus representantes”;
4º) a competência para
legislar não pode ser transferida para outras mãos que não aquelas a quem o
povo confiou.
Locke, in litteris: “Não
convém que as mesmas pessoas que detêm o poder de legislar tenham também em
suas mãos o poder de executar as leis, pois elas poderiam se isentar da
obediência às leis que fizeram, e adequar à lei à sua vontade, tanto no momento
de fazê-la quanto no ato de sua execução, e ela teria interesses distintos
daqueles do resto da comunidade, contrários à finalidade da sociedade e do
governo.”
Locke não tratou o Poder
Judiciário[7] como "poder genuíno
citou Bobbio (1897) e apontou algumas situações de litígio, mas não assinalou o
Poder Judiciário como apaziguador dessas situações, por exemplo, quando trata
da hipótese de o Poder Executivo estar sendo usado de forma ilegítima e questiona:
quem julgará este governante?
Locke assegurou em sua resposta
o direito fundamental da revolução do povo. “Entre um Poder Executivo
constituído, detentor desta prerrogativa, e um Legislativo que depende da
vontade daquele para se reunir, não pode haver juiz na terra...
Como não pode existir ninguém
entre o Legislativo e o povo, quando o Executivo ou o Legislativo, que têm o
poder em suas mãos, planejam ou começam a escravizá-lo ou a destruí-lo.
Nesse caso, assim como em
todos os outros casos em que não houver juiz na terra, o povo não teria outro
remédio senão apelar para os céus; assim, quando os governantes exercem um
poder que o povo jamais lhes confiou, pois nunca pensou em consentir que alguém
pudesse governá-lo visando o seu mal, agem sem direito.”
Contrariamente à Thomas
Hobbes, que entendeu que o afastamento da autoridade soberana provocaria a
destruição do Estado e o retorno ao caos do estado de natureza, Locke distingue
entre a dissolução da sociedade e a dissolução do governo, pois um governo pode
ser dissolvido internamente, e um novo governo ser estabelecido.
E quando houver litígio entre
o governante e um particular, referente as questões não previstas em lei ou de
interpretação duvidosa, a solução deve advir de um árbitro do povo, caso
contrário, a solução se dará, também pelo direito fundamental de revolta desse
mesmo povo.
Destaque-se que Locke, não
existe uma diferença essencial entre o Legislativo e o Judiciário, portanto,
este último está incluído no primeiro, isso porque a função do juiz imparcial é
exercia pela sociedade política, eminentemente pelos que fazem as leis, porque
um juiz só pode ser imparcial se existem leis genéricas, formuladas de modo
constante e uniforme para todos. (Bobbio).
Segundo Bobbio (1897) a teoria
de John Locke nada tem a ver com a teoria da separação e do equilíbrio entre os
poderes, mas sim, de separação e de subordinação.
É o que se depreende da
afirmação de que o Poder Executivo deve estar subordinado ao Poder Legislativo
e de que as ofensas sofridas por algum membro dessa sociedade política serão
julgadas por magistrado designado pelo Poder Legislativo ou pelo próprio Poder
Legislativo.
O Barão de La Brède e
de Montesquieu[8]
foi magistrado por doze anos, no período de 1714 a 1726. E, em 24.01.1728,
entrou para a Academia Francesa e, entre suas obras estão as Lettres
persanes, Le Temple de Gnide, Considerações sobre as causas
da grandeza dos romanos e de sua decadência e o Espírito das Leis, esta última
de 1748.
Trata-se de um manual de política e de Direito
Constitucional em que é estudado o governo e a política de forma científica.
O governo foi classificado em:
governo republicano, em que o poder soberano é de todo o povo (democracia) ou
somente de uma parcela do povo (aristocracia); governo monárquico, em que
somente um governa, por leis fixas e estabelecidas (leis fundamentais); e
governo despótico em que somente um governa, mas sem lei e sem regra,
satisfazendo a sua vontade e seus caprichos.
O princípio do agir no governo
republicano (democrático e aristocrático) será a virtude, pois “aquele que faz
executar as leis sente que está a elas submetido e que suportará o seu peso” (Montesquieu[9], 2000); no governo
monárquico, será a honra, que pode levar ao objetivo do governo e “o
preconceito de cada pessoa e de cada condição toma o lugar da virtude política”
(Montesquieu, 2000); e, no governo despótico, o temor, que acaba “com todas as coragens e
apaga o menor sentimento de ambição” (Montesquieu, 2000).
Cogita-se muito sobre a
separação dos poderes ensinada por Montesquieu, em “O Espírito das Leis”, mas
foram esquecidos ou perdidos pelo tempo o real conceito e a forma como a
separação de poderes se configuravam. O Poder é único e indivisível e para seu
exercício era conveniente estabelecer uma divisão de competências entre os três
órgãos diferentes do Estado. Montesquieu acentuou mais o equilíbrio do que a
separação dos poderes[10].
Segundo Montesquieu, o Estado
é subdividido em três poderes: Legislativo, Executivo e o Poder Executivo
dependente do direito civil, que é o poder de julgar. Os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário devem ter suas atribuições divididas, para que cada
poder limite e impeça o abuso uns dos outros.
Montesquieu in litteris:”
tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado dos Poderes
Legislativo e Executivo. Se estivesse unido ao Poder Legislativo, o poder sobre
a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria
legislador. Se estivesse unido ao Poder Executivo, o juiz poderia ter a força de
um opressor.”
O Poder Legislativo é o
autêntico representante do povo e para tanto firma a dualidade das câmaras: uma
confiadas aos nobres e, a segunda confiada aos escolhidos para representar o
povo.
O Poder Executivo deve estar
nas mãos de um monarca, porque esta parte do governo, que precisa quase sempre
de uma ação mais instantânea, é mais bem administrada por um do que por vários.
Destacou Vasconcelos que o
Poder Judiciário deve ser nulo e invisível, o que nos leva a negativa da
tripartição dos poderes. Pois o poder de julgar tão terrível entre os homens,
como não está ligado nem a certo estado, nem a certa profissão, torna-se,
invisível e nulo.
Afinal, teme-se a magistratura
e não os magistrados. Assevera, realmente, que dos três poderes, o de julgar é,
de alguma forma, nulo. Só sobram dois, e, como precisam de um poder regulador
para moderá-los, a parte do corpo legislativo que é composto por nobres é muito
adequada para produzir esse efeito (Montesquieu, 1794).
Percebe-se que Montesquieu
diferencia os tribunais dos julgamentos, sendo que os primeiros não deverão ser
permanentes, enquanto que os segundos devem sê-lo, pois são o “texto preciso da
lei”, devendo-se rodear o poder de julgar das maiores cautelas, uma vez que “os
juízes da nação são (...) seres inanimados que não podem moderar nem sua força
nem seu rigor” (Montesquieu, 1797).
Os poderes políticos, para o
pensador francês, são o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Estes vivem em uma balança, procurando o equilíbrio,
por meio de duas faculdades: a de impedir, que define como o direito de tornar
nula ou anular uma resolução tomada por quem quer que seja; e a de estatuir,
que atribui a um órgão constitucional controlar, limitar ou contrabalançar o
poder de outro órgão (Piçarra, 1989[11]).
A separação dos poderes foi
associada, por Montesquieu, ao conceito de liberdade e de direitos fundamentais[12] e acolhida, pelos
revolucionários franceses, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em
seu art. 16: “toda sociedade, onde a garantia dos direitos não esteja
assegurada nem a separação dos poderes determinada, não possui Constituição” (Bonavides,
1999)[13].
A separação dos poderes, como
limitadora do poder público, pretende favorecer a abstenção do Estado, garantindo
o gozo efetivo dos direitos de liberdade perante o Estado.
Surgida, originalmente, para
impor a liberdade e a segurança individuais, a redução do Estado pelo Direito
conduziu a que a tripartição se convertesse numa teoria das funções estatais e
que cada poder corresponderia a uma função estadual materialmente definida.
A função legislativa traduzida
pela forma como o Estado cria e modifica o ordenamento jurídico, mediante a
edição de normas gerais, abstratas e inovadoras; a função jurisdicional se
destina à conservação e à tutela do ordenamento jurídico proferindo decisões
individuais e concretas, dedutíveis das normas gerais; e a função executiva
concretiza-se quando o Estado realiza os seus objetivos, nos limites impostos
pelas normas jurídicas (PIÇARRA, 1989).
A referida classificação se
baseia na condição de que o Estado e o Direito se identificam. De fato, Kelsen
refutou a essa classificação, definindo que o conceito de separação de poderes
e designa princípio de organização política[14]. Kelsen pressupôs que os
chamados três poderes podem ser determinados como três funções distintas e
coordenadas do Estado, sendo possível definir as fronteiras de cada uma dessas
funções.
Adiante, constatou-se que não
são três, mas apenas duas funções básicas do Estado, a saber: a criação e a
aplicação do Direito e que é impossível atribuir a criação do Direito a um
órgão e a sua aplicação (execução) a outro, de modo tão exclusivo que nenhum
órgão venha a cumprir simultaneamente ambas as funções. (Kelsen, 1972).
É impossível distinguir
material ou intrinsecamente em termos absolutos uma função estatal da outra. E,
assim, Kelsen[15]
desestabilizou a teoria da separação dos poderes, como teoria da diferenciação
material das funções do Estado
A noção de controle,
fiscalização e de coordenação recíprocos tornou-se o foco na separação dos
poderes. Os controles jurisdicionais da legalidade, da administração e da
constitucionalidade da legislação evidenciam o avanço da atuação do Poder
Judiciário contrariando os estudos de Montesquieu que lecionava que deveria ser
um poder nulo, o da jurisdição.
O controle jurisdicional
constituiu o núcleo central da separação dos poderes no Estado constitucional
contemporâneo. Exemplos dessa situação está nas democracias brasileira,
estadunidense, alemã e italiana, em que toda lei aprovada pode ser cassada por
um órgão do Poder Judiciário.
Não obstante, na terra natal
de Montesquieu, o exame da constitucionalidade somente se dá antes da entrada
em vigor da lei, ainda na esfera dos seus projetos, por um Conselho
Constitucional de natureza política.
O pensamento de Montesquieu a
respeito dos juízes implementou-se na Constituição Francesa de 1791, que fixou
a eletividade e a temporariedade dos juízes, no entanto, a Constituição de 1814
estabeleceu serem os juízes nomeados pelo rei.
Com o sistema republicano de 1848,
foi mantida a designação dos juízes por nomeação, com a indicação feita pelo
Presidente da República, tendo garantido aos juízes de primeira instância e dos
tribunais a vitaliciedade. A atual Constituição Francesa trata de “autoridade
judiciária” e não de “Poder Judiciário.
De fato, a separação dos
poderes foi prevista pela Constituição Federal brasileira de 1988 sob uma
cláusula pétrea, conforme consta no artigo 60, §4º, III. Indaga-se o teor que
abrange o conceito da separação de poderes.
Nesses últimos tempos, desde a
publicação de o Espírito das Leis, onde a doutrina[16] fora afirmada, muitas e
diversas concepções vieram à luz e foram até consagradas pelo nosso direito
constitucional positivo.
Reconhece-se que as
constituições evoluíram e ainda evoluem, e, em alguns pontos, deu-se autêntica
mutação no período de 1988 a 2014.
Numa formulação clássica[17] das separações dos poderes,
depois sua concretização dentro do direito constitucional brasileiro,
particularmente, pelo texto constitucional de 1988, e ainda, sua essencial
significância, numa visão contemporânea, em face do adotado modelo democrático
consagrado no Brasil atual.
A separação de poderes no
Brasil foi adotada e aplicada historicamente de forma estanque, sob o enfoque
de uma divisão orgânica quanto de uma divisão funcional. Antes de 1988, o
período foi marcado pelo forte papel delegado ao Chefe do Poder Executivo
Federal. Apesar de haver instrumentos institucionais como as eleições
censitárias, indiretas, diretas e, etc.
E, o papel do Presidente da
República que sempre fora destacado, mostrando que o Executivo devorava os
demais poderes, salvo exceções como o breve período de parlamentarismo da
década de sessenta, onde a divisão de funções foi mais aparente do que
propriamente real.
Existe uma controvérsia sobre
a origem da separação dos poderes alguns doutrinadores ainda na Antiguidade, e
outros estudiosos somente a enxergam na modernidade, porém, entre os adeptos de
uma ou outra tese doutrinária, em geral, se digladiam.
Há estudiosos que afirmam que
a separação dos poderes já existia a obra de Aristóteles, enquanto existem
outros que a entendem como arranjo empírico que o filósofo sistematizou.
Numerosos juristas apontam que
surgiu na obra de John Locke, a que se opõem os que adotam a noção de ter sido
formulada pela primeira vez por Montesquieu, no Espírito das Leis. Já em
Aristóteles, na Política, existe a plena distinção de três funções exercidas na
polis, ou no Estado lato sensu. São uma função deliberativa, uma função
executiva e uma função judicial.
In casu, ele
se inspira na organização da república ateniense, em que, grosso modo, a
Assembleia dos
cidadãos deliberava sobre as
grandes questões, como paz e guerra; magistrados desempenhavam as tarefas
concretas que são inerentes a uma unidade política; e os tribunais julgavam os
litígios e puniam os criminosos.
A função deliberativa,
contudo, não se limitava a estabelecer “leis”, embora o pudesse fazer, sempre
respeitando o Direito – este visto como supremo e imutável. Era evidentemente
mais ampla.
Ademais, em nenhum momento o
pensador recomenda a separação no exercício das três funções que identifica. Em verdade, a ideia de dividir o exercício do
Poder em prol da boa governança parece provir da república romana, com o seu
sistema de contraposição de poderes – o do Senado, o dos cônsules, o do povo
nos comitia.
Na obra de John Locke,
intitulada “Segundo Tratado do Governo Civil”, no fim do século XVII que fora
inspirada nas instituições inglesas, onde também se distingue três funções, a
saber: a legislativa, a executiva e a federativa. Na primeira, inclui ele não
apenas a obra do legislador, mas igualmente a do juiz. Isto corresponde à
criação do statute law por aquele, do common law por este.
A respeito da função
federativa que tem por objetivo as relações internacionais, que normalmente se
entabulam por meio de alianças – aliança, em latim foedus, foederis.
E se ele recomenda a separação
entre exercício da função legislativa e o das duas outras funções, entende que
estas últimas devem ser confiadas ao mesmo órgão, pois ambas importam na força armada
e a divisão desta é perigosa fonte de conflitos. Muito ele contribuiu para a
formulação da doutrina da separação dos poderes, mas lhe cabe a honra de haver
estabelecido a doutrina clássica.
Inclusive, é a ele devida a
ênfase na indelegabilidade das funções. Foi com a lavra de Montesquieu e sua
obra que efetivamente nasceu a doutrina da separação dos poderes, marcada pela
divisão funcional do poder em face da liberdade e segurança individuais.
A propósito, no capítulo VI,
Da Constituição da Inglaterra, do Livro XI da referida obra, intitulada Das
Leis que formam a liberdade política em sua relação com a constituição,
claramente, expôs as três funções que tanto identificam o Estado, a de
estabelecer as leis, ou seja, a função legislativa; a de executar, que depende
do direito das gentes, ou função executiva e, a de julgar e executar o que
depende do direito, a função judiciária.
E, tais funções cujo exercício
deve caber aos Poderes diferentes, como condição da liberdade e da segurança da
pessoa humana.
De fato, essa separação
produziria um sistema de freios e contrapesos, um sistema de equilíbrio, em que
o Poder deteria o (outro) Poder, impedindo o abuso. Mais, pelo “movimento
natural das coisas”, obrigá-los-ia a atuar de acordo – “aller de concert”.
Indubitavelmente, aí está o cerne da doutrina da separação dos poderes.
Essa formulação, Montesquieu
encontra na Inglaterra. Ela, porém, não é coetânea do livro (1748), mas, sim,
do início do século XVIII, depois que o Act of Settlement de 1701
assegurou a independência dos juízes, tendo sido a do Parlamento consagrada pelo
Bill of Rights de 1689[18].
Isto sugere que ele, conforme
autorizados intérpretes (entre os quais Jean-Jacques Chevallier[19]) entendem, põe o que veio
a ser conhecido por separação dos poderes como uma receita de arte política,
tendo em vista a transformação política desejável para a França.
No Espírito das Leis, é uma
visão política que é dada à ideia de separação dos poderes. Isto, com efeito, transparece da necessidade
de entendimento, de conciliação, entre os Poderes, o que evidentemente exclui a
prevalência de qualquer destes sobre os demais.
Ele aponta que os Poderes
teriam de caminhar “de concerto”, pois do contrário ocorreria um “repouso ou inação”
que se chocaria com “o movimento necessário das coisas.”
Ora, essa paralisia não ocorreria numa
concepção jurídica em que a legislação tem primazia e determina a ação dos
demais Poderes.
Na verdade, pode-se salientar,
com Mauro Barberis[20], que três ideias são
inerentes à concepção da separação dos poderes tal qual a exprime Montesquieu. São estas: 1) no Estado, três funções são
essenciais: a de dar a lei, a exercer a
governança dentro da lei, mormente executando a lei, e a de julgar a conduta
dos indivíduos e os litígios em geral, segundo a lei e de modo objetivo e
imparcial.
Ou seja, a legiferação, a
administração e a jurisdição – distinção de funções;
2) estas funções não devem
estar nas mãos de um só órgão ou poder, mas devem estar distribuídas entre ao
menos três Poderes diferentes – divisão de funções;
3) Estes Poderes devem estar
em condições de independência (e relativo) equilíbrio, para que cada Poder
possa deter, se preciso for, outro ou outros Poderes – são os freios e
contrapesos[21]
– a “balance of Power” dos doutrinadores anglófonos.
Ademais, que, ao contrário do
que muitos pretendem, inclusive para criticar a doutrina, Montesquieu não supõe
que as três funções sejam cientificamente distintas – elas não o são, como
tantos já o demonstraram – nem que cada Poder tenha a exclusividade no
exercício de uma delas.
Ao contrário, está evidente na
obra que podem colaborar numa função, do que é exemplo a elaboração da lei, em
que ele distingue a faculté de statuer da faculté d’empêcher. Aquela é
reservada ao Poder Legislativo, esta cabe ao Executivo, contudo não haverá lei
sem com o estatuído não estiver de acordo este derradeiro Poder.
A finalidade da separação dos
poderes é o estabelecimento de governo limitado, moderado e respeitoso aos
direitos fundamentais e apto à realização do interesse geral. Conforme está no
artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, é estar inerente
à verdadeira Constituição, portanto, imprescindível ao constitucionalismo.
A aplicação da separação dos
poderes não foi, na França pós-1789, a do concerto, do entendimento, mas do
conflito entre o Executivo, então o monarca, e o Legislativo, com a
preponderância da representação popular.
Em vista disso, é que Benjamin
Constant[22],
pouco mais tarde, entendeu preciso acrescentar aos Poderes previstos por
Montesquieu, um quarto, o Poder Neutro[23], que iria marcar a
Constituição brasileira de 1824, nela designado de Poder Moderador.
Este um árbitro de conflitos
entre Poderes, um guia para mantê-los na direção do bem comum. Sempre,
portanto, uma visão política da separação dos poderes.
Ao longo do século XIX, a concepção
jurisdicista de separação de poderes adveio e, prevaleceu. Fora desenvolvida
pelo positivismo jurídico[24], para o qual todo o
direito se resumiria ao direito positivo. Isto é, que todo o direito proviria
da lei, sendo esta criada pelo Legislativo.
Trata-se de uma interpretação
estreita e limitada do direito em geral e da doutrina a lei, adotada por tal
corrente. E, seu êxito, deu-se por ajustar a preeminência do único poder de
origem popular, que foi, nos primeiros momentos do constitucionalismo, o Legislativo.
A consequência de tal doutrina
é a conclusão de existir diferença substantiva entre as três funções,
legislação, administração e jurisdição.
Em razão desta diferença,
gerações de juristas desenvolveram sutilezas autênticas e merecedoras da
escolástica. Afinal, a doutrina positivista da separação sobrevive até os
presentes dias e, ainda, é a principal marca do Estado de Direito que é
presidido pelo princípio da legalidade.
Pelo mundo afora, tal
princípio não mais corresponde a simples prevalência da lei formal, porém,
admite em lugar desta, os atos com força de lei, isto é, os atos normativos
primários provenientes do Executivo.
Mais tarde, com a
transformação neoconstitucionalista[25] do Estado de Direito,
veio a se enfatizar a prevalência do Direito, visto como moral sobre os
instrumentos formais de sua expressão.
Onde o que é justo deve determinar
para todos, as ações e proibições O que reflete o papel criador do Judiciário,
criando a partir dos princípios para os casos concretos que vem a apreciar.
Há inequívoco entendimento,
seja para a democracia, seja para o Estado de Direito, que exprime nas ideias
de Constituição aberta e da preeminência dos princípios sobre as regras,
contemporaneamente destacados por doutrina substancialista e que pretende ser
pós-positivista e pós-moderna.
Em verdade a ideia de
prevalência do justo (jus quia justum) sobre o direito legislado (jus
quia jussum) profundas raízes que se manifestam desde a Antiguidade e estão
presentes quando do nascimento do constitucionalismo.
Não invoca este a qualidade de
direitos naturais àqueles que incumbe ao Estado garantir? A separação dos
poderes no direito constitucional brasileiro. Cabe relembrar o perfil da
separação de poderes nas Constituições brasileiras anteriores à ora vigente, e
que vem iluminar diversos aspectos da vigente institucionalização.
Se a separação dos poderes
está presente em todas as Constituições brasileiras, nem sempre foi ela posta
em termos ortodoxos. Ou seja, com os três Poderes clássicos, independente e
harmônicos, vedada de modo absoluto a delegação de atribuições.
Tal versão ortodoxa não
prevaleceu senão na vigência da Constituição de 1891 e sob a Carta Magna de
1946. Quando o artigo 15 previa que serem órgãos da soberania nacional o Poder Legislativo,
o Executivo e o Judiciário independentes e harmônicos entre si.
Adiante, no artigo 36, caput,
da segunda repetia esse texto, mas acrescentava em parágrafos, por um lado, que
o cidadão investido num deles não poderia exercer função noutro, por outro, ser
vedado a qualquer dos Poderes delegar atribuições.
Ressalve-se, porém, que, no período que vai da Emenda Constitucional nº
4, de 2 de setembro de 1961, à de nº 6, de
23 de janeiro de 1963, ou seja, no período parlamentarista, a separação dos
poderes deixou de lado a ortodoxia, já
pela índole do regime, já por haver previsto a delegação do poder de legislar ao Executivo sob as duas
Constituições, todavia, houve a prevalência do Presidente da República, portanto do
Executivo, mais atenuada ao tempo da segunda, mais intensa ao tempo da primeira.
Então, observou-se que todas
as Constituições brasileiras adotaram as fórmulas heterodoxas de separação dos poderes,
exceto a Carta de 1937[26], a Polaca que adotou o
seu oposto.
E, a Constituição Imperial de
1824 seguiu a lição deixada por Constant e ainda previa além dos três Poderes
(Legislativo, Executivo e Judiciário), um quarto poder, o Poder Moderador
(artigo 10). Afirma-se ser esta a chave de toda organização política, sendo delegado
privativamente ao Imperador. E, a este também cabia o Poder Executivo que o exerceria
acompanhado por seus ministros (artigo 102).
No Primeiro Império, o
Imperador reinou e governou. No Segundo Império, a partir de 1840, instaurou-se
um parlamentarismo[27], em que, todavia, o poder
moderador é que determinava a alternância dos gabinetes.
A Constituição de 1934, logo
no art. 3º, consagrou a separação dos poderes, em termos muito próximos do que
fizera a de 1891. Entretanto, sob essa aparência ortodoxa, previa um papel
heterodoxo para o Senado Federal. Este, além de colaborar com a Câmara dos
Deputados (art. 22), seria um órgão de coordenação entre os Poderes.
Com efeito, segundo o art. 88,
caber-lhe-ia “promover a coordenação dos poderes federais entre si, manter a
continuidade administrativa, velar pela Constituição, colaborar na feitura de leis”
...
Assim, era-lhe destinado um
papel, atenuado embora, de Poder moderador. Foi, de fato, breve em demasia a vigência
dessa Constituição para que se possa avaliar seus méritos ou deméritos. Certamente, porém, não eliminou a prevalência
do Executivo sobre os outros Poderes. Tal preponderância, aliás, se acentuou
depois das Emendas de 1935 que conferiram extraordinários, “poderes de guerra”
ao chefe do Governo.
A Constituição de 1967 e sua
revisão pela Emenda nº 1/1969 adotou a separação dos poderes, mas abandonou a
indelegabilidade do poder de legislar (art. 6º). Com efeito, admitiu-se nelas a
lei delegada, bem como o decreto-lei, inspirando-se nitidamente na Constituição
italiana (art. 46).
Tais textos constitucionais
recobriram o denominado período militar, onde havia a habitual prevalência do
Presidente da República que gozava de poderes excepcionais, tais como ser o Chefe
da Revolução. Que propriamente se iniciou esmo antes da edição a Constituição
de 24 de janeiro, com o Ato Institucional de 9 de abril de 1964.
Tal situação anômala cessou brevemente,
no período de 15 de março de 1967 a 13 de dezembro de 1968 quando pelo Ato
Institucional 5[28],
voltou e até com maior pujança depois deste. Somente se alterou o quadro com a
revogação dos Atos Institucionais pela Emenda Constitucional nº 11, de 13 de
outubro de 1978, entrada em vigor em 1º de janeiro de 1979, mas de fato
perdurou até a posse do Pres. Sarney, em 15 de março de 1985.
Estipulou-se com esta o
período de transição, que levaria à Constituição Federal em vigor, obra do
Congresso constituinte, operante em 1987/1988.
A Carta outorgada de 1937 não
teve efetividade, nem tendo ocorrido o “plebiscito” ratificatório que previa,
embora fosse declarada em vigor desde sua promulgação (art. 187), nem havendo
sido constituído o Parlamento nacional que previa.
Foi, na terminologia de
Loewenstein, uma Constituição “semântica”[29], servindo de mera capa para
um poder pessoal. O seu exame, porém,
merece atenção por adotar exatamente a posição oposta à da separação.
Se o texto constitucional
distinguia o Legislativo e Judiciário, não cogitava de Executivo, e,
positivamente, do Presidente da República tido como autoridade suprema do
Estado, tendo as tarefas de coordenar a atividade dos órgãos representativos,
de grau superior, de dirigir, a política interna e externa, de promover ou
orientar a política legislativa de interesse nacional e de superintender a administração
do país (artigo 73).
Quanto a legisferação, gozava
também do poder de iniciativa geral, o que os membros do Parlamento só teriam
condição de fazê-lo em ato coletivo, subscrito por um terço dos integrantes de
uma de suas câmaras.
Tal iniciativa seria exclusiva
no tocante a leis que importassem em despesa pública ou normas tributárias. E,
ainda possuía o veto, superável embora por dois terços dos membros de cada uma
das casas do Parlamento. Gozava do poder de editar decretos-leis, desde que
autorizado pelo Parlamento (art. 12), bem como de regulamentar as leis.
É preciso, todavia, apontar
que o art. 11 prescrevia que a lei, “quando de iniciativa do Parlamento”,
disporia apenas sobre sua matéria, substância e princípios, devendo ser complementada
pelo regulamento a ela relativo.
E, mais, poderia, em caso de
declaração de inconstitucionalidade pelo Judiciário, solicitar a reapreciação
da lei pelo Parlamento que pela maioria absoluta de votos de cada câmara, caso
em que a declaração ficaria sem efeito (art. 96, parágrafo único). Decorre claramente
deste exame que a “constituição” concentrava nas mãos do Presidente da
República o cerne do poder.
Na realidade política, o
Presidente da República possuía, durante o Estado Novo que essa Carta pretendia
institucionalizar, um poder absoluto. Não tendo sido realizado o plebiscito,
não tendo sido eleito o Parlamento, o Presidente da República, com base no art.
180, dispunha do poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias de
competência legislativa da União.
Era ele o Executivo, o
Legislativo e podia suplantar declarações judiciais de inconstitucionalidade
por meio de ato seu, dada a inexistência de fato do Legislativo. Destarte, era
também senhor da Constituição. Seguramente, era um ditador, na acepção moderna
e plena do termo.
Há dois ângulos de
interpretação da separação dos poderes no texto constitucional vigente. Um ângulo
é a exegese de seu texto no que interessa à separação dos poderes. Já, para
outro ângulo, refere-se apontar a realidade, isto é, em face da ordem jurídica
vigente que se efetiva nos dias que correm.
Eis que nos assombra a
preocupação de que as Constituições se modificaram com o passar do tempo, em
razão da jurisprudência, de leis infraconstitucionais, da doutrina jurídica,
das ideologias políticas e da cultura.
Em verdade, a Constituição
vigente no que se refere à separação dos poderes em pouco difere das
anteriores. Porém, se destacou além das demais, na medida em que inclui a
separação dos poderes entre matérias, cuja abolição não pode sequer ser objeto
de deliberação, mesmo em sede de Emenda Constitucional, vide o artigo 60, §3º.
A real significância e alcance
de tal proibição podem provocar polêmica doutrinária. Pois é imprecisa a
delimitação do que seja a separação dos poderes na Constituição em vigor.
Aliás, é o que se depreende
dos textos constitucionais brasileiros anteriores, a delegação de legislar
sobre matéria determinada pelo Legislativo em favor do Executivo, ou seja, a lei delegada – o que foi admitido mesmo na
vigência da Constituição de 1946, pela Emenda parlamentarista, a Emenda nº 4/1961 – ou
atribuição de poder normativo com força de lei, como já estava na Constituição de 1967 e na
sua reformulação pela Emenda nº 1/1969, ou seja, o decreto-lei[30], não eram tidos como
contrários a esse princípio.
Assim, desde logo é forçoso
admitir que a separação dos poderes, na Constituição em vigor, que prevê lei
delegada e, em substituição, sobretudo, de designação, a medida provisória, não
é a da doutrina clássica.
É certamente um arranjo em
que, em princípio, cabe ao Legislativo gerar atos normativos com força de lei,
ao Executivo, administrar, e ao Judiciário, julgar, salvo prescrição
constitucional que não deve ser
presumida em contrário.
Ademais, importa, em nome da
tradição republicana, que haja certos controles por parte do Legislativo sobre
o Executivo relativamente a atos de importância política primordial – do nível
de instauração do estado de guerra ou da suspensão de garantias individuais.
Mas isto é impreciso e
variável, como ocorre com todos os princípios que são, na doutrina de Robert
Alexy[31] e outros, mandados de
otimização. Referindo ainda opinião deste, deve-se apontar que um princípio não
é ferido, enquanto seu núcleo essencial é preservado (o que supõe ser possível
com relação a princípios frequentemente compreendidos de modo muito diferente
conforme a cultura do povo, e as diversas ideologias).
É deste ângulo de visão que o
Supremo Tribunal Federal entendeu, pela voz do Ministro Sepúlveda Pertence, que
a inamovibilidade prevista no art. 60, § 3º, admite a mudança dos preceitos que
se desenvolvem a partir das cláusulas “pétreas”, mesmo quando
constitucionalizados.
Ainda em análise da
Constituição em vigor, o art. 2º já enuncia o perfil da separação de poderes,
tal qual ela é usualmente entendida: “São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.
É exatamente a redação do art.
36 da Lei Magna e quase igual à de 1967 e 1969, art. 6º. Não se repete a
proibição de delegação de atribuições, o que é coerente, em face da lei
delegada, mas estava expresso nas Leis Magnas anteriores, mesmo quando admitiam
tal espécie de lei como a de 1946, enquanto vigente a Emenda nº 4/1961 – a de
1967 e o texto de 1969.
Nem se reproduz a de que o
integrante de um dos Poderes se invista em função de outro, o que estava nos
diplomas de 1946 (art. 36, § 1º), 1967 (art. 6º, parágrafo único), 1969 (idem).
Trata-se de lógica, porque o
deputado ou senador pode ser investido da função de Ministro e outras (obviamente
integrantes do Executivo) – sem perder o mandato (art. 56, I), o que, aliás, já
era autorizado pelos textos anteriores.
Eis que se consagra uma
separação de poderes heterodoxa e, no que tange à distribuição de competências,
o legislativo tem em mãos, em geral, a função legislativa, a este são
atribuídas muitas outras que, por sua natureza preponderante, seria a seara
administrativa, tais como autorizações a aprovações conforme os artigos 48 e 49
CF/1988.
Igualmente, possui este a
competência para, por meio do Senado Federal, processar e julgar crimes, no
caso os de responsabilidade. Ademais, ele exerce a função administrativa,
relativamente à sua organização interna e seus serviços.
É também cediço observar que o
Executivo, conquanto exerça as tarefas inerentes à função de administrar, não a
abrange por inteiro, eis que o Legislativo administra e o Judiciário também o
faz quanto a seus serviços.
Ele legifera, ao menos quando
autorizado pelo Legislativo, caso da lei delegada, afora a hipótese de
organizar a administração e regular-lhe o funcionamento, inclusive extinguindo
cargos públicos vagos por decretos autônomos (art. 84, VI, “a” e “b”).
Igualmente, edita medidas
provisórias com força de lei (art. 62). Certamente ele só não julga, na medida
em que o contencioso administrativo, no quadro brasileiro, como o fazendário,
não decide definitivamente os litígios.
O Judiciário, a seu turno,
possui como já se indicou, competências administrativas. Vale, analisando
sumariamente o texto sobre o processo legislativo, sublinhar alguns pontos.
Concernente à iniciativa que
é, de modo geral, partilhada entre Executivo, o Presidente da República e, os
membros do Congresso Nacional, ou suas comissões. Também as possuem, porém, no
âmbito de sua estruturação interna e a de seus serviços, o Supremo Tribunal
Federal, os Tribunais Superiores e os Tribunais de Justiça (artigo 96, II) e o
Ministério Público quanto à sua organização, atribuições e estatuto (art. 128,
§ 5º). Também é admitida a iniciativa popular (art. 61, § 2º).
O que de se sublinhar não esse
fenômeno que é antigo e bem conhecido, mas a peculiaridade de que o Executivo
tem competência em matérias a ele privativas, o que, portanto, exclui iniciativa
dos membros do Legislativo (art. 61, § 1º).
Note-se, ainda, que a
Constituição dá ao Presidente da República a iniciativa de Emendas
constitucionais, o que só veio a ser permitido no direito brasileiro pelos Atos
Institucionais e, depois, pela Constituição do período militar. Quanto à
deliberação, esta cabe exclusivamente ao Congresso Nacional, titular do Poder
Legislativo.
Nela, todavia, pode influir o
Executivo, por meio da solicitação de urgência para projetos de sua iniciativa
(art. 64, § 1º e seguintes). Isto adstringe as Câmaras a se manifestarem em
prazo limitado, na deliberação geral em quarenta e cinco dias.
Caso contrário, ficarão
sobrestadas todas as deliberações legislativas da Casas, salvo as que tiverem
prazo constitucional prefixado, até que sejam votadas.
Ademais, cabe ao Presidente da
República o poder de vetar, no todo ou em parte, os projetos aprovados pelo
Congresso Nacional, com fundamento em inconstitucionalidade ou inconveniência
(contrariedade ao interesse público). Esse veto, porém, é superável em nova
deliberação das Casas de Congresso Nacional, desde que tal rejeição conte com o
voto da maioria absoluta dos membros e cada uma delas (art. 64).
Cumpre destacar as Medidas
Provisórias que foram adotadas em nítida substituição ao Decreto-Lei da
Constituição brasileira anterior, como um odo entulhos autoritários e, quanto à
estas, porém, é necessário registrar que o texto constitucional primitivo e o texto
mais recente, decorrente da Emenda Constitucional 32 de 2001.
Em ambos os textos, a medida
provisória é um ato normativo editado pelo Presidente da República, que tem de
ser submetido a uma conversão em lei pelo Congresso Nacional. Pode-se afirmar
que seu perfil seria o de um projeto de lei de eficácia antecipada.
Em ambos, de fato, tem esta
eficácia imediata, prevendo-se a perda desta, de modo retroativo desde sua
edição (desfazimento ex tunc), se não for convertida em lei em prazo
determinado.
Era este, na redação primeira,
de trinta dias, na atualmente vigente de sessenta dias, prorrogáveis uma única
vez. Acrescente-se que, nas duas redações, a sua edição é sujeita à condição de
“relevância e urgência. Enfim, o texto de 1988 não enumerava matérias a esta
proibidas, enquanto o texto em vigor as veda em relação a vários temas.
O texto promulgado em 1988 não
previa a hipótese de sua reedição, caso não aprovada a medida no prazo de
trinta dias. Foi aceita, todavia, pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, a prática dessa reiteração sem limite de oportunidades, o que as tornava
como que permanentes, às vezes com pequenas modificações, outras vezes com
modificações profundas, a dano da segurança jurídica.
Outrossim, de modo geral, a jurisprudência não
examinava a ocorrência da urgência e da relevância, considerando-as de
avaliação política e discricionária do chefe do Governo.
A prática das medidas provisórias, editadas
sobre as mais variadas matérias, reiteradas uma infinidade de vezes, ferindo,
no plano jurídico, a segurança, no plano político, a função legislativa do
Congresso Nacional, provou fortes críticas, bem como inúmeras tentativas de
restringir o seu uso. Isto é que levou à Emenda Constitucional nº 32/2001[32].
Esta, além das diferenças já
apontadas e outras de menor importância, proibiu a renovação da medida após o
decurso do prazo de prorrogação, na mesma sessão legislativa.
Em contrapartida, determinou
fossem sobrestadas as deliberações legislativas até sua apreciação na Casa em
que estiver tramitando. Certamente, tudo isto veio a restringir o alcance deste
instrumento normativo, não seu peso político, a que adiante se voltará.
Em nossa pobre realidade
brasileira, a separação dos poderes praticada é caracterizada pela
preponderância do Executivo, ou seja, do Presidente da República, isto é, do
Executivo. Aliás, a preeminência do Executivo
é fenômeno presente na contemporaneidade e em todo mundo.
Mas, em verdade, tal
proeminência do Executivo é incorporada pelo Presidente da República, advinda
por sua legitimidade democrática, encarecida pela eleição direta em dois
turnos, o que traduz que fora escolhido pela maioria absoluta do povo
brasileiro.
Por outro viés, o da cultura
política nacional, pois para essa maioria, em preponderam os carentes, é se
revela em ser milagroso, senão o demiurgo que poderá, enfim, trazer o bem-estar
a todos.
Essa visão cultural tem sua
razão de ser, quando se examinam os papéis que, na realidade, são confiados ao
Presidente da República, pelo direito brasileiro.
Não será de bom gosto a
comparação, mas é forçoso apontar que a Carta de 1937 bem caracterizou o Presidente
como agente político. Esta, no art. 73, o previa “autoridade suprema do
Estado”, e este o é hoje em diante, para todos os efeitos práticos.
Caber-lhe-ia dirigir “a política
interna e externa” do país, e ele o faz; promover ou orientar a “política
legislativa de interesse nacional”, ele o tem feito, como autor da esmagadora
maioria das leis que vem sendo promulgadas; teria a tarefa de superintender “a
administração do país”, e a Constituição a ele a confere.
E, a Carta do Estado Novo[33], na sua letra, lhe
atribuía o poder de editar decretos-leis, desde que autorizado pelo Parlamento
(art. 12), o que hoje se dá pela chamada lei delegada, e, sem autorização, pela
medida provisória.
O que então não se mencionava,
nem se imaginava, é que fosse também o Presidente da República o comandante da
economia nacional.
Sim, porque ele o é, na medida
em que a política financeira é capitaneada pelo Banco Central que ele rege
ainda que indiretamente; que a política econômica depende da política
financeira quanto aos juros, de estímulos, que vêm ou não de sua boa vontade, e
dependem de financiamentos que procedem muitas vezes do BNDES ou do Banco do
Brasil, que são “seus”.
Acrescente-se, ainda, a este
último ponto o peso que têm a Petrobrás e as usinas de energia nuclear, ou
hidráulica que controla. Certamente, a
desestatização, com a privatização da Vale do Rio Doce, da Siderúrgica Nacional,
reduziu um pouco, mas pouco, a sua esfera de atuação econômica.
Ademais, mencione-se que é ele
o provedor dos mais pobres. Tem nas mãos o sistema previdenciário, o sistema
unificado de saúde, programas assistenciais, como a bolsa-família, etc. E é, em
última análise, o “patrão” de todos os que emprega a imensa máquina estatal e
paraestatal. Lembremos que os seus
salários dependem dele...
A esta indisfarçável
preponderância soma-se o aporte das medidas provisórias, que tende a operar uma
concentração em suas mãos de dois Poderes, o Legislativo, além do Executivo.
Ao editar a Medida Provisória,
o Presidente da República altera, segundo sua discrição, a ordem jurídica. Com isto, ele a amolda segundo melhor lhe
parece com vistas aos objetivos e políticas que pretende instaurar. Somente depois de produzir efeitos, e de estar
produzindo efeitos, é que o Legislativo a examina, para convertê-la ou não em
lei.
Ora, este controle a
posteriori depara com fatos consumados que pesam decisivamente em favor de
sua aprovação. Trata assim o Legislativo, não de um projeto, uma lei in
fieri, mas uma lei facta.
A Emenda nº 31/2001 certamente
aprimorou o controle que caía anteriormente no vazio, dada a possibilidade de
reiteração ilimitada da Medida. Inverte-se em resumo o modelo de processo
legislativo desenhado por Montesquieu.
Em vez de faculté de
statuer, ou seja, ter a faculdade de estatuir, estabelecer o conteúdo
normativo da lei, o Legislativo fica com uma faculté d’empêcher, um veto
bem menos eficaz, porque a posteriori, do que o que cabia e cabe ao Executivo.
Este, embora superável, ao
menos afasta a vigência e eficácia do conteúdo normativo. Ademais, os trabalhos
legislativos do Poder Legislativo ficam na dependência das Medidas Provisórias
e no ritmo destas. Têm essas, com efeito, prazos obrigatórios de tramitação,
sob pena do sobrestamento de outras “deliberações legislativas”.
Isto significa uma prioridade
para as Medidas Provisórias em relação aos projetos de lei que, estes, podem ser
de iniciativa parlamentar. E como as Medidas Provisórias são muitas, pouco
resta para o exame destes projetos.
Pode-se afirmar que o
Legislativo, enquanto poder de legislar, fenece. Seu papel, no campo que foi sua
razão de ser, torna-se apagado, reduzido a um controle às vezes inviável pela
consumação dos efeitos da Medida Provisória.
Os parlamentares atuais bem o
sentem, de modo que procuraram outra atividade que não a de legisladores, a fim
de terem sobrevida política. Esta é a de inquérito, com a instituição das CPIs[34], as Comissões
Parlamentares de Inquérito.
Estas não visam mais, como
está nos livros, a colher subsídios para a atuação do Parlamento, em suas
tarefas próprias, sendo a essencial evidentemente a de legislar; voltam-se para
a apuração de atos ilícitos, assumindo um papel policialesco. Nisto, não raro
invade o terreno atribuído ao Judiciário.
Mas este papel, que idealmente
configura controle, dá notícia, é acompanhado pelos meios de comunicação de
massa e, por intermédio destes, salienta este ou aquele deputado, este ou
aquele senador. Fica destarte muito claro que o Legislativo brasileiro se
tornou essencialmente um poder de controle do Executivo. Se o Legislativo
fenece, o Judiciário se expande.
Sem dúvida, em tempo algum de
nossa história, se deu tanta atenção a este Poder que deve ser o mais discreto
de todos. No desempenho de suas tarefas tradicionais, dirimir litígios surgidos
nas relações sociais, essencialmente entre particulares, punir delitos, esse
Poder, todavia, não brilha.
É banalidade reconhecer a
lentidão dos processos pois justiça tardia não é justiça, com a consequência da
(relativa) impunidade para os criminosos e a demorada reparação das eventuais
lesões patrimoniais sofridas pelos indivíduos.
Disto, aliás, o Estado muito
se beneficia pelo verdadeiro “calote” no não pagamento dos precatórios,
inclusive de alimentos, ou de modo mais leniente, pela demora interminável no
seu pagamento.
O destaque contemporâneo do
Judiciário vem das funções políticas que vem assumindo. Isto certamente é
ensejado por instrumentos previstos na Constituição e pelos particulares desta,
entretanto, já foi muito além do que os constituintes ou os exegetas do texto
de 1988 imaginaram. Ocorre uma “judicialização da política”[35] que leva a uma
“politização”, em mais de um sentido, do próprio Poder Judiciário.
Analise-se este ponto. O
Judiciário, em todas as suas instâncias, tem-se substituído ao Executivo na
determinação de políticas públicas, ou na orientação destas. Sob o acicate
principalmente do Ministério Público, tornado plenamente autônomo pela
Constituição em vigor, em resposta a ações civis públicas, às vezes em mandados
de segurança coletivos, etc., vem ele obrigando o Executivo a desencadear
políticas públicas.
Isto é, globalmente falando,
positivo, mas é preciso observar que o magistrado, habituado ao julgamento
singelo – tem direito, não tem direito – defere pedidos, sem levar em conta o
possível, sem avaliar oportunidade e conveniência, que levam à definição de
prioridades, sem estar preso a limitações orçamentárias, ou sujeito à lei de
responsabilidade fiscal...
Igualmente, pode-se ratificar sem
maior dúvida que o Judiciário também está substituindo o Legislativo na
formulação de normas que deveriam ser objeto de lei. A Constituição vigente, preocupada, sem
dúvida, com a omissão legislativa, no tocante à regulamentação de preceitos
constitucionais, previu a ação de inconstitucionalidade por omissão.
Esta, porém, revelou-se inócua,
eis que apenas permite seja dada ciência ao Legislativo da omissão, em qualquer
consequência efetiva. Entretanto, por meio do mandado de injunção[36], o Supremo Tribunal Federal
tem corrigido essa inércia em muitos casos, com ainda fez em 2007, a propósito
da regulamentação do direito de greve do servidor público. Suprir omissões é
ponto positivo, contudo significa o Judiciário assumir a legiferação.
Acrescente-se que o mesmo se
pode afirmar do Tribunal Superior Eleitoral. Este, em 2007, ao responder a consultas,
fixou, numa interpretação constitucional ousada, o relacionamento entre eleito
e o partido que o elegeu. Entendeu o eleito preso a esse partido por uma sorte
de fidelidade partidária.
Corroborada essa
interpretação, que como tal não saía do âmbito natural de um tribunal no
sistema difuso, pelo Supremo Tribunal Federal, deu um passo adiante. Editou uma
resolução disciplinando a matéria, resolução que tudo tem de lei salvo o nome.
Também no que toca ao
desdobramento de normas constitucionais, num terreno de transição entre o
infraconstitucional e o propriamente constitucional, o Supremo Tribunal
Federal, com base no art. 103-A da Constituição, passou a legiferar por meio
das súmulas vinculantes. Estas, como a resolução acima mencionada, são leis, e
leis com força (quase) de normas formalmente constitucionais.
De fato, elas prescrevem, com
força vinculante, para o Estado brasileiro em todas as esferas federativas, uma
interpretação cogente para os preceitos formalmente constitucionais, o que não
seria inovação.
O instituto é apresentado como
consolidação de jurisprudência. Entretanto, a prática recente mostra que o
Supremo Tribunal Federal vem usando o instituto para desdobrar ou complementar
a Constituição, certamente indo além da mera exegese do texto de 1988. E, ao
fazê-lo, não se preocupa com a existência de reiteradas decisões sobre a
matéria e toma decisões de apreciação política, de aferição de conveniência.
Transcendente a tudo, veio o Supremo
Tribunal Federal recebeu da Lei nº 9.868/1999 poder de constituinte de revisão.
O art. 27 de tal lei (repetido pelo art.
11 da Lei nº 9.882 do mesmo ano) confere a esse Egrégio Tribunal a atribuição
de “modular” os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Para a doutrina tradicional,
com Rui Barbosa[37]
à frente e para a própria jurisprudência desse Tribunal, o ato inconstitucional
sempre foi um ato nulo e írrito, cujos efeitos devem ser desfeitos
retroativamente, ex tunc.
Atualmente, porém, embora, em
princípio, isso não mude, o Supremo Tribunal Federal pode, ao declarar a
inconstitucionalidade, “restringir os efeitos” da declaração “ou decidir que
ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento
que venha a ser fixado”.
Ora, restringir os efeitos da
declaração só tem sentido se se entender que se mantém em vigor o que contraria
Constituição.
Tal decisão muda a
Constituição no ponto específico. E o mesmo se dá, conquanto numa modificação
transitória, se a desconstituição do ato for fixada para qualquer outro momento
que não o de sua entrada para o mundo do direito positivo.
Trata-se de uma apreciação
política, pois depende da concordância de dois terços do Tribunal, nem se
repita que basta a maioria absoluta para a decretação da inconstitucionalidade.
Além disso, é fundada ou “em
razões de segurança jurídica” que, como tais, estão no plano do direito, ou por
“excepcional interesse social”. Este último conceito abrange, na verdade, tudo
aquilo sobre o qual se debruça o Estado e é excepcional o que a maioria qualificada
entender sê-lo.
A realidade é que, na
atualidade, o ato inconstitucional é, como decorre das lições de Kelsen[38], um ato anulável,
conforme o grau de intensidade da infração da Constituição, conforme a
ponderação da maioria qualificada dos membros do Supremo Tribunal Federal. E,
tome-se, o depoimento.
Ao apreciar o Supremo Tribunal
Federal a inconstitucionalidade de lei do Estado de Tocantins, não houve
qualquer debate sobre a temática jurídica (que era pacífica) mas se discutiu se
a inconstitucionalidade, que afetava o status de numerosos servidores do Estado,
deveria ter efeito ex tunc ou não[39].
Decidiu então o Tribunal que
deveria ter efeito ex tunc*, para fim pedagógico, servir de exemplo. Não
está nisto crítica. É um exemplo de
“excepcional interesse social”.
É imaginável que a
judicialização da política[40] importe num risco de
politização do Judiciário. Chamado a apreciar questões políticas, o magistrado
tende a deixar manifestarem-se as suas convicções e seu senso moral.
Aquelas podem desviar-se para
o desiderato de favorecer uma ideologia, ou até um partido, este pode levá-lo a
um papel de vingador do bem contra o mal.
Esse fenômeno, que se teme
para o futuro, sem referências ao presente, é, ademais, incitado pelos meios de
comunicação de massa, particularmente pela televisão.
A mídia tem seus critérios de
julgamento que não são os do direito, tende a ver no suspeito, que não raro é
ela que apontou, um delinquente comprovado, quer a punição do crime de
imediato, sem as necessárias delongas de um processo.
Enxerga-se, então, um ardiloso
meio pelo qual os advogados bem remunerados conseguem a impunidade de seus
clientes ricos, por meio de uma Justiça formalista.
E, por isso, aplaude todas as
ações, sem forma nem figura de direito, que pareçam corrigir o que pensam
errado. Com isto, premiam com a imagem santificada os que a atendem, vilipendia
e aponta à execração pública os que seguem a lei.
Em face dos posicionamentos
assumidos ao longo desse texto, cabe esboçar uma síntese da significação do essencial
sobre a separação dos poderes.
O primeiro ponto a salientar é
o da relatividade da separação dos poderes. Isto quer do ângulo doutrinário,
quer do ângulo da concretização do princípio nas Constituições do passado e,
sobretudo, do presente.
Realmente, no plano
doutrinário, esta foi proposta por Montesquieu como uma “receita” de arte
política. Seu objetivo não foi o de estabelecer uma doutrina científica da
organização do Estado mesmo porque isto não se coaduna com a ciência – mas,
sim, instituir um sistema de freios e contrapesos, no qual cada Poder pode
atuar a fim de impedir o abuso dos outros.
Para isto, ele entendeu, sem
dúvida inspirado em Locke e no direito constitucional inglês, convir a
separação (relativa) dos órgãos superiores de governança, segundo as três
funções primordiais que exerce o Estado. Funções estas que não pretende de
natureza diversa, como está na própria letra do capítulo VI do livro XI do
Espírito das Leis.
Foi o positivismo jurídico[41] que radicalizou a
separação, resumindo à lei formal estabelecida pelo Legislativo o direito e
fazendo estritamente subordinados a esta o Executivo e o Judiciário, como meros
aplicadores da lei.
Essa tese prosperou, não só
pela adesão da comunidade jurídica a essa escola, mas também porque ela
convinha, nos primeiros tempos do constitucionalismo, a enfatizar a
representação popular e, por intermédio desta, a favorecer a democracia.
No fundo, o direito
constitucional brasileiro, como o estrangeiro, cada qual na sua medida, nunca
separou de modo absoluto as três funções primordiais. (grifo
meu)
Sempre, por exemplo, confiou
ao Legislativo a aprovação ou a autorização para o Executivo tomar decisões
políticas capitais. Essa relatividade permitiu que o relacionamento entre os
dois Poderes propriamente políticos (Legislativo e Executivo) se adaptassem a
novos tempos, em razão de fatores como a extensão do sufrágio, a
democratização, o intervencionismo econômico e social.
Ensejou, assim, o
desenvolvimento do parlamentarismo, em lugar de se aferrar a uma separação mais
rígida, como a da monarquia constitucional, ou do presidencialismo.
Igualmente, conciliou-se com a delegação do
poder de legislar, e mesmo o poder autônomo de legislar, para o Executivo, o
que se tomou comum nos últimos sessenta anos, pelo menos. A separação dos
poderes sobrevive no mundo contemporâneo em razão das provas que deu e dá de
dificultar o abuso, protegendo a liberdade individual.
Um outro ponto a salientar
exprime que, no direito brasileiro, a separação dos poderes foi concebida pela
doutrina em paralelo ao ensinamento pelo mundo afora. Quando prevalecia o
positivismo, prevaleceu aqui a versão positivista; hoje, quando este perdeu
força, uma nova concepção pós-positivista tende a prevalecer.
Identifica-se isto na ênfase nos
princípios em detrimento das regras (e da segurança jurídica). Eis que se
reflete na Constituição de 1988, uma Constituição “aberta” que multiplica os
princípios explicitados e com isto flexibiliza o primeiro dos princípios do
Estado de Direito, o princípio de legalidade.
Abre, ademais, o campo para o
desenvolvimento em prol do Judiciário um papel político, porque, em última
análise, é este quem concretiza tais princípios.
No plano fático, a
institucionalização da separação dos poderes sempre deu preeminência, se não
preponderância ao Executivo. E, isso num grau muito superior ao das
experiências estrangeiras, salvo as latino-americanas. Isto, sem dúvida, mais
se deve aos nossos costumes políticos do que propriamente à letra das leis e da Constituição Federal.
É preciso considerar na mensuração concreta
não apenas os poderes jurídicos com que ele conta, como o de administrar e de
“legislar” direta ou indiretamente, mas outros aspectos como ser ele o Poder
que garante a segurança interna e externa, o gestor da economia, o protetor dos
carentes, etc.
No quadro atual, essa
prevalência continua acentuada e, em contrapartida, se amesquinha o papel do
Legislativo, cuja função essencial – a legiferação – foi absorvida pelo
Executivo.
O Judiciário, entretanto,
aparece fortalecido, no que tange a um papel político. Ele muitas vezes
determina e amolda políticas públicas, legifera, inclusive em matéria
constitucional, pode modular a inconstitucionalidade, no fundo mudando a
Constituição Federal brasileira.
Não o faz por usurpação, mas
motivado por instrumentos previstos na Lei Maior e, não raro, em razão da
omissão dos outros Poderes, mormente do Legislativo. Tal judicialização da
política não é, todavia, fenômeno exclusivamente brasileiro.
Noutros países, ele se
registra. Talvez esteja, aqui e agora, mais exacerbado do que além fronteiras.
Quanto à politização da Justiça (ainda incipiente) é preciso prevenir que se
desenvolva entre nós, dado os males que acarreta.
Uma opção a discutir
relativamente a isto seria a institucionalização de uma Justiça Constitucional,
nos moldes seguidos em geral na Europa, com a especialização da função, a
estipulação de mandato de tempo certo, a participação nas indicações dos três
Poderes e não só do Executivo, bem como da sociedade civil.
No limite jurídico, a
separação dos poderes significa Poderes autônomos os com atribuições próprias -
definidas na Constituição Federal+ ou decorrentes desta que não podem ser
usurpadas por um deles, nem disfarçadamente.
No limite político, exige não
apenas a independência dos Poderes na sua composição e no exercício de suas
funções - estas relativa e ponderadamente especializadas - numa equação de
forças que enseje um sistema de freios e contrapesos.
O princípio da separação de
poderes tentou colocar cada poder dentro de um escopo teórico fechado,
delimitado e incomunicável conforme o seguinte axioma: ou é função executiva,
ou é função judiciária ou é função legislativa.
Além das constituições
contemporâneas atribuem funções precípuas típicas e atípicas aos poderes
constituídos, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário que têm agregado
às suas competências originais outros atributos cada vez mais amplos.
Destaca-se também, crescente
intervenção do Poder Executivo no processo legislativo, o que é denominado de
ativismo dos órgãos do Poder Executivo. De fato, se reconhece que a doutrina da
separação dos poderes se apresenta de novo modo com a existência da jurisdição
constitucional a qual é atribuída funções de controle abstrato de normas e competência
para dirimir conflitos de competência entre órgãos e resolver impugnações
contra leis ou decisões judiciais.
É indispensável, em um sistema
equilibrado de partilha de competências institucionais, que o Poder Judiciário[42] possa concluir acerca da
racionalidade e da razoabilidade[43] sempre que for
questionada lesão ou ameaça de lesão a direito individual ou coletivo, sob pena
de permitir-se, pelo menos em tese, o arbítrio do legislador.
O princípio da separação dos
poderes admitia mesmo na doutrina clássica o exercício de funções
compartilhadas. E, o direito constitucional contemporâneo francamente admite a
doutrina de separação de poderes que deve ser encarada de novo modo com a
existência de uma jurisdição constitucional, que além de deter as típicas
competências que lhes são reservadas, concorrentemente, a missão impostergável
de efetivar os direitos fundamentais.
Com a passagem do Estado
Liberal para o Estado Social o que representou uma evolução das funções de
governo, expressas pela administração: bem como das funções de garantia,
expressas pela jurisdição, sempre a partir de uma defesa da abstenção rumo ao
estímulo de intervenção com fins garantistas. Na transição do Estado Liberal para
o Estado Social representou a valorização da igualdade material em relação à
liberdade individual.
Por isso, ao Estado não mais
coube proteger os direitos individuais, porque como resultado dessa transição,
a ele caberá também promover os direitos sociais[44], por meio de ações
governamentais. Nese contexto, o Poder Judiciário assumiu papel político e
passou a desempenhar um intervencionismo judicial. Espera-se do Executivo e do
Legislativo que promovam a realização dos direitos sociais.
E, com a judicialização da
política, transformou o julgador num partícipe da sociedade além de defensor da
democracia pois a prestação jurisdicional também provoca transformações
políticas, sociais e econômicas.
No direito alienígena, principalmente, dos EUA[45], Alemanha, Espanha, Itália e França a judicialização da política corresponde a um papel pró-ativo do juiz que assume a responsabilidade pelo respeito à integridade da função dos poderes constituídos, ao mesmo tempo que se torna ator protagonista para a concretização dos valores democráticos e dos direitos fundamentais[46].
Referências
ARENDT, Hannah. O que é
política? Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998.
ARISTÓTELES. A Política.
São Paulo: Martins Fontes, 1991.
____________. Ética a
Nicômaco. Madrid: Centro e Estúdios Políticos y Constitucionales,
1999.
BARBOSA, Rui. Oração
perante o Supremo Tribunal Federal. 1892. Disponível em:
BOBBIO, Norberto. Locke e o
direito natural. 2.ed. Brasília: Editora UnB, 1997.
__________. O problema da
guerra e as vias da paz. Tradução de Álvaro Lorencini. São Paulo: Ed. Unesp, 2003. Título original: Il
problema della guerra e le vie della pace.
BOLDRINI, Rodrigo Pires da
Cunha. Garantia de Direitos e Separação dos Poderes. No Brasil atual, o
princípio da separação dos Poderes opõe limites à garantia de direitos sociais
pelo Judiciário contra omissões do Executivo? Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo. Dissertação de Mestrado.
BONAVIDES. Teoria do
Estado. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 1999.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes.
Direito constitucional e teoria da constituição. 5. ed. Coimbra:
Almedina, 2003.
CAPPELLETTI, Mauro. Juízes
legisladores? Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1999.
CITTADINO, Gisele. “Judicialização
da Política.” Constitucionalismo Democrático e Separação dos poderes”.
In: VIANNA, Luiz Werneck. A Democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, IUPERJ/FAPERJ, 2002
CHEVALIER, Jacques. Les
interprètes du droit. Interprétation et
droit. Bruxelles: Presses Universitaires, 1995.
CONSTANT, Benjamin. Das
Reações Políticas. Tradução de Josemar Machado de Oliveira. Revista de
História da Universidade de São Paulo, São Paulo, n.146, 2002, p.71-121.
CONSTANT, Benjamin. Del
espíritu de conquista y de la usurpación en relación con la civilización
europea. Traducción de Anna Portuondo Pérez. Madrid: Tecnos,
2008.
CONSTANT, Benjamin. Mélanges
de Littérature et de politique. Paris: Pichon et Didier, 1829.
CONSTANT, Benjamin. Princípios
de Política Aplicáveis a Todos os Governos. Tradução de Joubert de Oliveira
Brízida. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007.
CHAUÍ, Marilena. Introdução
à história a filosofia dos pré-socráticos a Aristóteles. 2.ed. São Paulo:
Cia. das Letras, 2002.
DUARTE, Marcelo Barboza. A
dimensão ontológica em Aristóteles e Marx: Fundamentando o Educando como ser
político-social e de trabalho no processo educacional social. Disponível em:
https://periodicos.ufrn.br/saberes/article/view/13148/9227 Acesso
em 29.10.2023.
DUGUIT, L. La separación
de poderes y la Assamblea nacional de 1789. Madrid: Centro de Estúdios,
1998.
DWORKIN, Ronald. Levando os
direitos a sério. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
FERREIRA FILHO, Manoel
Gonçalves. A separação dos poderes: a doutrina e a sua concretização
constitucional. Cadernos Jurídicos. São Paulo, Ano 16, nº40, p.67-81, abril/junho
de 2015.
HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre
facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de
Janeiro: Tempo brasileiro, 1997.
HARTMANN, Nicolai. Ontologia.
México: Fondo de Cultura Econômica, 1986. v. I.
JAPIASSÚ, H.; MARCONDES, D. Dicionário
Básico de Filosofia. Editora: Zahar, 2006.
KELSEN, Hans. Teoria geral
do direito do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
LENZA, Pedro. Direito
constitucional esquematizado. 21ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2017.
LOCKE, John. Segundo
tratado sobre o governo civil e outros escritos. Petrópolis: Vozes, 1994.
LOEWENSTEIN, Karl. Teoria
de la constitución. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1976.
MENDES, Gilmar Ferreira;
COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito
constitucional. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2008.
MONDIN, Battista. Curso de
filosofia. São Paulo: Paulus, 1982. v. 1.
MORAES, Alexandre de. Direito
constitucional. 23 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2008.
MONTESQUIEU. Vida e obra.
São Paulo: Nova Cultural, 1997. Os pensadores.
______. O espírito das leis.
2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
______. O espírito das leis.
6. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.
NOVAES, Adauto. Ética.
São Paulo: Companhia
das Letras; Secretaria
Municipal de Cultura, 1992.
PEIXINHO, Manoel Messias. O
princípio da separação dos poderes, a judicialização da política e direitos
fundamentais. Disponível em: https://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/3
Acesso em 28.10.2023.
PIÇARRA, Nuno. A separação
dos poderes como doutrina e princípio constitucional. Coimbra: Coimbra
Editora, 1989.
RECASENS SICHES, Luis. Nueva
Filosofia de la Interpretactión del Derecho. 2 ed. México: Editorial
Porrúa. 1973.
SILVA, José Afonso da. Comentário
contextual à constituição. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.
STRECK, Lenio
Luiz. O papel da jurisdição constitucional na realização dos direitos
sociais fundamentais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org). Direitos
fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e
comparado. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
VASCONCELOS, Pedro Bacelar de.
Cadernos democráticos n. 3, Fundação Mário Soares. Lisboa: Gradiva,
1998.
ZAGREBELSKY, Gustavo. La
giurisdizione constituzionale. In: AMATO, Giuliano; BARBERA,
Augusto. Manuale di diritto pubblico, II, L´organizzazione costituzionale. 5.
ed. Bologna: Il Mulino, 1997
ZAULI, Eduardo Meira. Judicialização da política, Poder Judiciário e Comissões Parlamentares de Inquérito no Brasil. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/198655/000881199.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 28.10.2023.
[1]
Aristóteles nos traz o homem como animal político-social por meio e através de
um movimento que não se dá originário na estrutura biológica, mas ontológica do
homem enquanto ser de corpo e alma. Onde talvez em processos dialéticos,
dialógicos, polifônicos e epistemológicos ebulem no ser do homem e assim venham
se convergir no seio social mediados pela palavra/logos.
[2]
Quando o pensamento de Aristóteles afirma que” o homem é um ser político por
natureza”, ele quer dizer que por natureza temos necessidade de viver em
sociedade e que precisamos desse convívio. E, por reconhecer essa necessidade,
cada cidadão deve se responsabilizar pela Polis. Podemos observar que o
estagirita além de afirmar que o homem é um animal político, também o é social,
uma vez que, ele nos diz que o aparecimento da cidade é um processo natural
inserido no desenvolvimento com laços intrínsecos, imanente e inerente ao e do
homem enquanto ser e animal diferente dos demais animais. Pois segundo ele, “A
sociedade que se formou da reunião de várias aldeias constitui a Cidade, que
tem a faculdade de se bastar a si mesma, sendo organizada não apenas para
conservar a existência, mas também para buscar o bem-estar,”.
[3] E por “harmonia entre os poderes” compreendem-se as “normas de cortesia no trato recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm direito”. Por mais rígida que possa ser a distinção das funções do poder e sua separação em diferentes órgãos no Presidencialismo, não há como se dizer que essa individualização e independência sejam absolutas. Sempre serão necessárias áreas de interferência e controle mútuos entre os Poderes, seja em consequência do modelo de freios e contrapesos (checks and balances), em nome do equilíbrio do poder dentro do Estado, ou ainda em decorrência da realidade de unicidade do Poder do Estado.
[4]
De forma geral, John Locke apontava a existência de quatro funções fundamentais
do Estado: a legislativa, que caberia ao Parlamento; a executiva, que seria
exercida pelo Rei; a federativa, que seria uma extensão da função executiva
para atividades do Estado; e, a quarta função, a prerrogativa, que seria a do
Rei fazer o bem à sociedade sem se subordinar às regras.
[5]
Para Dworkin, os argumentos de princípio são
argumentos destinados a estabelecer um direito individual; os argumentos de
política são argumentos destinados a estabelecer um objetivo coletivo; os
princípios são proposições que descrevem objetivos. DWORKIN, Ronald. Taking
rights seriously. USA: HUP, 1978.
[6]
Para a boa compreensão da tripartição de poderes idealizada por Montesquieu, é
necessário ter claro em mente duas concepções, a saber, independência e
liberdade. O primeiro passo, é compreender que não se deve confundir o poder do
povo com liberdade, segundo Montesquieu, nas democracias, o povo tende a
acreditar que liberdade é fazer o que quiser, quando na verdade, isso é a
independência do povo frente ao Estado, não à sua liberdade propriamente dita.
[7]
Foi na formulação de Montesquieu que primeiro se reconheceu um Poder Judiciário
funcional e institucionalmente autônomo, destacado do Poder Executivo,
incumbido então de julgar os crimes e conflitos entre os particulares. A concepção de uma forma de Estado dividido
funcional e institucionalmente em três poderes – um com a competência de
legislar, outro com a competência de administrar e outro encarregado de dirimir
conflitos – foi consolidada. Igualmente, a ideia de interdependência ou
harmonia entre esses poderes também ficara inicialmente delineada, com as
ideias de faculdade de estatuir e faculdade de impedir8 – sem prejuízo,
todavia, das profundas alterações que essa estrutura sofreria nos Estados
Unidos da América em 1803 com a implementação do controle de
constitucionalidade.
[8] Montesquieu, como importante jurista, político e filósofo, demonstrou a existência de três formas de governo: o despotismo, a monarquia e a república. Influenciado pelo ideal iluminista da época, Montesquieu buscou demonstrar que a liberdade individual estava em fazer tudo o que as leis permitiam e a liberdade política só seria possível em governos moderados onde não se abusasse do poder por isso, ele acreditava que, para afastar governos absolutistas (déspotas e a monárquicos) e evitar a produção de normas tirânicas, seria fundamental estabelecer a autonomia e os limites de cada poder. Assim, viu-se necessário estipular que fosse possível “o poder freiar o poder”, daí a ideia do Sistema de freios e contrapesos.
[9] Na separação do filósofo francês, há a
identificação das clássicas funções legislativa, executiva e judiciária;
portanto, há a ideia de uma divisão tripartite do poder estatal que até hoje
perdura como aquela mais difundida. No plano
institucional, identificaram-se também três órgãos: o parlamento, o governo, e
agora, autonomamente, os tribunais. Desse modo, Montesquieu (2007) descreveu um
modelo em que as três funções essenciais do Estado estavam distribuídas em três
instituições distintas e separadas. Diferentemente do que formulara Locke, que,
apesar de identificar quatro funções estatais, apenas as distribui entre duas
instituições, o Parlamento e a Coroa.
[10]
A técnica de Montesquieu foi inspirada por grande interesse antiabsolutista e
que, afirmam alguns seria uma releitura da doutrina da divisão de poderes de
Locke, fora desenvolvida com base numa interpretação ideal da Constituição a
Inglaterra. É ideal pois na época ainda não existia a Monarquia Constitucional
da Inglaterra, um Estado onde três poderes estariam devidamente separados e
mutuamente contidos com base na tese de que só o poder poderia conter o poder,
sob o fito de salvaguardar os direitos individuais.
[11]
No mundo contemporâneo verifica-se forte tendência a que o Judiciário seja
compreendido como poder independente e capaz de controlar os atos dos demais
poderes. Tal tendência pode ser comprovada pela história recente das matrizes
constitucionais da Inglaterra e da França, a narrar o progressivo prestígio
experimentado pelo Judiciário. A tendência de valorização do Judiciário é
identificada pela tradição norte-americana, já antiga, em reconhecer o controle
de constitucionalidade como sendo papel primordial a ser desempenhado por esse
poder independente. Foi Nuno Piçarra que deduziu do modelo aristotélico a ideia
de equilíbrio ou balanceamento das classes sociais através da sua participação
no exercício do poder político, viável mediante o seu acesso à orgânica
constitucional. Foi Piçarra que reconheceu que a origem da separação dos
poderes é mesmo do constitucionalismo inglês.
[12]
Os direitos fundamentais, principalmente os direitos, liberdades e garantias,
são as maiores armas constitucionais contra o abuso das maiorias. Eles
funcionam como trunfos contra o próprio poder do Estado e contra a própria
comunidade que não pode restringi-los indiscriminadamente. Assim, os direitos
fundamentais consistem em limites ao próprio poder político, incluindo o
legislador, que não pode dispor de seu núcleo irredutível nem mesmo quando tal
restrição poderia representar um benefício para a maioria da população. São
interesses individuais oponíveis, inclusive ao interesse coletivo.
[13]
Locke legitima a prerrogativa em nome do bem comum. Diz que “muitas coisas hão
para quais a lei não provê meios e que necessariamente devem ficar a cargo daquele
que detém em suas mãos o poder executivo, para serem por ele ordenadas, na
medida em que a conveniência e o bem público o determinarem”.
[14]
Um dos principais exemplos é da organização política dos Estados Unidos. A
carta constitucional de 1787 – primeira e única do país – limitou-se a
organizar as instituições políticas do país e a fixar os limites dos poderes
reconhecidos às autoridades federais nas suas relações com o Estado e com os
cidadãos. A Constituição dispõe da seguinte separação de poderes: O Poder
Legislativo é atribuído ao Congresso, e é composto pelo Senado e pela Câmara de
Representante; O Poder Executivo é exercido pelo Presidente e seu vice; E o
Poder Judiciário é composto por uma Suprema Corte e por tribunais inferiores,
estes estabelecidos por determinação do Congresso. Vale ressaltar que nos
Estados Unidos, assim como no Brasil, a função exercida pela Suprema Corte é
extremamente importante ao exercício das leis.
[15]
Aduz Kelsen que
existe “função legislativa
do judiciário quando
os Tribunais anulam leis inconstitucionais e, em segundo lugar, quando
no sistema de common
law há o
estabelecimento de precedentes
que podem definir o conteúdo e o próprio sentido das leis de formas e
até de maneira diversa do órgão legislador”; d) Não há separação de poderes,
mas distribuição de competência (poderes), ou seja, quando a Constituição
define o poder legislativo com órgão legislativo, tal competência é sempre
compartilhada com o executivo e o judiciário.
[16]
A moderna doutrina da separação de poderes do
Estado, que encontra em Montesquieu a formulação que se converterá em dogma
constitucional9 a partir do século XIX, remonta ao processo de afirmação do
credo político liberal e sua preocupação central com a contenção dos poderes do
Estado. Com efeito, diante dos riscos inerentes à concentração dos poderes do
Estado, a técnica da separação de poderes emerge como mecanismo institucional
central para a garantia dos direitos individuais10 e pré-condição para o
exercício de controles sobre o Estado.
[17]
Nos Estados Unidos da América, por sua vez, a independência foi marcada
primordialmente por uma separação do poder muito mais rígida, vista na
implementação do modelo presidencialista. Mais que isso, o sistema
jurisdicional baseado em precedentes judiciais, típico do modelo de Common Law,
fomentou naquela cultura jurídica o desenvolvimento do controle de
constitucionalidade.
[18]
A doutrina da separação de poderes surgiu e se desenvolveu no contexto da
guerra civil e da República de Cromwell. Com o advento da Restauração, essa
doutrina radical que não defendeu necessariamente a participação do Rei no
legislativo, nem a existência da Câmara dos Lordes, foi logicamente substituída
por uma concepção mais adequada de Estado para a monarquia
recém-restaurada. Pouco depois, com a
Revolução Gloriosa de 1688 que encerrou o absolutismo inglês. Logo após os
conflitos, o Parlamento conduziu ao poder a filha de Jaime II e seu marido
Guilherme de Orange. Após assumirem o trono, os novos monarcas assinaram novo
documento imposto pelos Lordes e foi o Bill of rights de 1689, cujo
principal fim foi garantir a supremacia do Parlamento.
[19]
Jean-Jacques Chevallier (1900 — 1983) foi um professor, jurista, historiador e
acadêmico francês do século XX.
Professor da Faculdade de Direito e Ciências Econômicas de Paris, membro
da Academia de Ciências Políticas e Morais (1964-83), deixou inúmeras obras, em
particular um grande clássico sobre "As Grandes Obras Políticas de
Maquiavel aos Nossos Dias" (Les grandes œuvres politiques: de Machiavel
à nos jours), recentemente reeditado com uma atualização de Yves Guchet.
Vários historiadores posteriores na França reconheceram sua influência;
Jean-Pierre Gross escreve sobre "Um relato cronológico e histórico, na
tradição estabelecida por Jean Jacques Chevallier”, e segundo o jurista francês
Georges Lavau: "Tivemos alguns mestres que exploraram certos territórios,
quase na solidão: André Siegfried,
Raymond Aron, Jean-Jacques Chevallier, Georges Burdeau, Jean Stoetzel.
[20]
Nascido en Génova (1956), é professor de Teoria do Direito na Universidade de
Trieste e codiretor das revistas Ragion pratica y Materiali para una
história della cultura giuridica. É autor de mais publicações científicas
trescientas, veia de cuales son monografias, entre elas L'evoluzione nel
diritto (1996), Libertad (2002), Europa del diritto (2008) e Una
filosofia del diritto per lo stato costituzionale (2017). Colabore em
jornais e revistas, e tenha um blog nos sites Fatto quotidiano e Micromega.
Neste mesmo Editorial é autor de no hay seguridad sin libertad. La
quiebra das políticas antiterroristas (2020), Ética para juristas (2008) e
coautor, em conversa com Luigi Ferrajoli, de Los derechos.
[21]
O Sistema de Freios e Contrapesos
chamado também de Teoria da Separação dos Poderes e consiste na ideia do
controle do poder pelo próprio poder. Nessa teoria, há a ideia de que as
diferentes funções desenvolvidas pelo Estado precisam se autorregularem. Assim,
torna-se necessário a criação de três poderes distintos – Executivo, Legislativo
e Judiciário – para propiciar uma maior segurança aos cidadãos quanto aos seus
desejos em sociedade. A finalidade da separação das funções é evitar a
concentração de poder nas mãos de uma única pessoa ou grupo. Além disso, essa
divisão confere a cada um dos poderes autonomia para exercer sua respectiva
função, assegura a harmonia entre os três e evita que abusos aconteçam por
qualquer um desses.
[22]
Constant desenvolveu uma nova teoria de Monarquia Constitucional, na qual o
poder real deveria ser um poder neutro, protegendo, balanceando e restringindo
os excessos dos outros, poderes ativos (o executivo), a legislatura, e o
judiciário.
[23]
Desse modo, o papel do Poder Judiciário, antes considerado praticamente nulo e
limitado a ser simplesmente a boca que pronuncia as palavras da lei. No que diz
respeito ao papel do Poder Judiciário, este ganha muito maior independência e
projeção para o triunfo do Estado Democrático e Social de Direito. É também no
início do século XX que começa a surgir o modelo europeu de controle de
constitucionalidade, e, portanto, a difusão, para além da América, de
mecanismos de controle da superioridade hierárquica da Constituição sobre as
leis.
[24]
Ronald Dworkin (2002), em sua obra” Levando os direitos a sério”, registrou
algumas proposições centrais e organizadoras do Positivismo Jurídico que, a seu
ver, identificam, de maneira geral, o esqueleto de tal proposta. São elas:
[...] a) o direito de uma comunidade é um conjunto de regras especiais
utilizado direta ou indiretamente pela comunidade com o propósito de determinar
qual comportamento será punido ou coagido pelo poder público. Essas regras
especiais podem ser identificadas e distinguidas com auxílio de critérios
específicos, de testes que não têm a ver com seu conteúdo, mas com o seu
pedigree ou maneira pela qual foram adotadas ou formuladas. Esses testes de
pedigree podem ser usados para distinguir regras jurídicas válidas de regras
jurídicas espúrias (regras que advogados e litigantes erroneamente argumentam
ser regras de direito) e também de outros tipos de regras sociais (em geral
agrupadas como “regras morais”) que a comunidade segue, mas não faz cumprir através
do poder público. b) o conjunto dessas regras jurídicas é coextensivo com “o
direito”, de modo que se o caso de alguma pessoa não estiver claramente coberto
por uma regra dessas (porque não existe nenhuma que pareça apropriada ou porque
as que parecem apropriadas são vagas ou por alguma outra razão), então esse
caso não pode ser decidido mediante “a aplicação do direito”. Ele deve ser
decidido por alguma autoridade pública, como um juiz, “exercendo seu
discernimento pessoal”, o que significa ir além do direito na busca por algum
outro tipo de padrão que o oriente na confecção de nova regra jurídica ou na
complementação de uma regra já existente.
c) Afirmar que alguém tem uma “obrigação jurídica” é dizer que seu caso se enquadra em uma regra jurídica válida que exige que ele faça ou se abstenha de fazer alguma coisa (Dizer que ele tem um direito jurídico, ou um poder jurídico de algum tipo, ou um privilégio ou imunidade jurídicos é asseverar de maneira taquigráfica que outras pessoas têm obrigações jurídicas reais ou hipotéticas de agir ou não agir de determinadas maneiras que o afetem). Na ausência de uma tal regra jurídica válida não existe obrigação jurídica; segue-se que quando o juiz decide uma matéria controversa exercendo sua discrição, ele não está fazendo valer um direito jurídico correspondente a esta matéria.
[25]
O neoconstitucionalismo visa refundar o direito constitucional com base em
novas premissas como a difusão e o desenvolvimento da teoria dos direitos
fundamentais e a força normativa da constituição, objetivando a transformação
de um estado legal em estado constitucional. O neoconstitucionalismo toma como
objeto de estudo as Constituições surgidas depois da Segunda Guerra Mundial,
marcadas por uma grande e detalhada pauta material, de que é exemplo a
Constituição brasileira de 1988. O neoconstitucionalismo é, como o prefixo
indica, uma nova leitura do constitucionalismo.
O tema é, por várias razões, bastante controverso. Tanto o rótulo em si,
como o significado a ele atribuído são assuntos polêmicos. Como será aqui
explicado, o nome foi proposto para identificar um conjunto de teorias bastante
heterogêneas, e o foi por autores contrários a elas. Quer dizer: a proposta da
denominação partiu de uma crítica à teoria denominada. Ademais, boa parte dos
autores das várias teorias associadas ao rótulo não o utilizou, de modo que o
próprio “nome” se tornou bastante problemático. Muitos que aceitam as premissas
neoconstitucionais rejeitam a denominação “neoconstitucional”. As divergências
não se restringem ao rótulo. Muitos
teóricos consideram equivocadas as premissas teóricas a ele associadas, e
outros as consideram um avanço definitivo da Ciência do Direito.
[26]
Dentre as principais características constantes nos 187 artigos da Constituição
de 1937 estão a centralização do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário na
pessoa do Presidente, a separação era apenas formal; o trabalhador não poderia
fazer greve; os direitos e garantias individuais foram limitados. A Carta de
1937, também conhecida como “polaca” em virtude da evidente semelhança com a
Constituição polonesa de 1921, não vigorou de fato, pois Getúlio Vargas, tal
como um ditador, continuou governando por seus próprios termos, como fazia
desde 1930. Segundo o historiador Antonio Fernando Pires: “A Constituição de
1937 igualmente deixou de ser observada por Getúlio Vargas. Foi uma
Constituição-fantoche. O Senado foi substituído por um Conselho Federal, cujos
membros eram indicados pela Presidência da República.” O Presidente Getúlio
Vargas também já havia dado mostras que preferia um regime político mais
centralizado. Demorou a convocar eleições para a Constituinte de 1934, e
desagradava a vários adversários por concentrar o poder cada vez mais em suas
mãos.
[27]
O chamado parlamentarismo às avessas foi o sistema político vigente no Império
do Brasil durante o Segundo Reinado. Esse sistema alternava na chefia do Poder
Executivo os partidos Conservador e Liberal, baseados na escolha do Poder
Moderador. A Presidência do Conselho de Ministros foi criada pelo Imperador D.
Pedro II em 1847, esse marcou o início do regime parlamentarista no Brasil.
Nesse regime parlamentarista o poder legislativo é o mais forte, maior até que
o executivo, a ele cabe a tarefa de criar as leis e ainda fiscalizar o trabalho
do executivo.
[28] O Ato Institucional Número Cinco (AI-5) foi o quinto de dezessete grandes decretos emitidos pela ditadura militar nos anos que se seguiram ao golpe de estado de 1964 no Brasil. "AI-5 não deve ser interpretado como um “golpe dentro do golpe”, isto é, não deve ser visto como resultado de uma queda de braços nos meios militares que levou um grupo vitorioso a endurecer o regime. Ele deve ser enxergado como o resultado final de um processo que foi implantando o autoritarismo no Brasil pouco a pouco no período entre 1964 e 1968. Foi a conclusão de um processo que visava a governar o Brasil de maneira autoritária em longo prazo. O AI-5, na visão das historiadoras Lilia Schwarcz e Heloísa Starling, “era uma ferramenta de intimidação pelo medo, não tinha prazo de vigência e seria empregado pela ditadura contra a oposição e a discordância. Já o historiador Kenneth P. Serbin fala que, por meio do AI-5, as forças de segurança do governo tiveram carta branca para ampliar a campanha de perseguição e repressão contra a esquerda revolucionária, oposição democrática e Igreja".
[29]
Semântica é a Constituição cujas normas foram elaboradas para a legitimação de
práticas autoritárias de poder; geralmente decorrem da usurpação do Poder
Constituinte do povo.
[30] Primeiramente, um decreto-lei que não fosse apreciado pelo Congresso Nacional passaria a ser considerado definitivamente uma lei, enquanto a medida provisória deve passar pela apreciação do Congresso para virar lei. Se expirar o prazo de apreciação, a medida perde imediatamente sua eficácia. Uma medida provisória sempre tranca a pauta, ou seja, quando chega ao Congresso, passa à frente de todos os outros itens que estão na lista de votação, com exceção das MPs. Já os decretos, são atos administrativos da competência dos chefes dos poderes executivos (presidente, governadores e prefeitos).
[31]
Robert Alexy (Oldenburgo, 9 de setembro de 1945) é um jurista alemão, e um dos
mais influentes filósofos contemporâneos do direito. Graduou-se em direito e
filosofia pela Universidade de Göttingen, formou-se doutor em 1976, com a
dissertação Uma Teoria da Argumentação Jurídica, e adquiriu habilitação em
1984, com a Teoria dos Direitos Fundamentais. Ambos os trabalhos são
considerados clássicos contemporâneos da filosofia e teoria do direito. A
definição de direito de Alexy bebe do normativismo de Hans Kelsen (o qual foi
uma versão influente do positivismo jurídico) e do jusnaturalismo de Gustav
Radbruch, mas sua teoria da argumentação o colocou bem próximo do
interpretativismo jurídico. É professor da Universidade de Kiel e em 2002 foi
indicado para a Academia de Ciências e Humanidades da Universidade de
Göttingen. Em 2010 recebeu a Ordem do Mérito da República Federal da Alemanha.
[32]
É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que
tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. A
passagem da MP pelo Congresso é necessária para que seja convertida, ou não, em
lei no prazo de 60 dias, prorrogável por igual período.
[33]
Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas revogou a Constituição de 1934,
dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta
Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com a supressão dos
partidos políticos e concentração de poder nas mãos do chefe supremo do
Executivo.
[34]
O espectro das ações das CPIs está delimitado pelas competências
constitucionais do Poder Legislativo. Assim, “podem ser objeto de investigação
todos os assuntos que estejam na competência legislativa ou fiscalizatória do
Congresso. Se os poderes da comissão parlamentar de inquérito são dimensionados
pelos poderes da entidade matriz, os poderes desta delimitam a competência da
comissão, ela não terá poderes maiores do que os de sua matriz. De outro lado,
o poder da comissão parlamentar de inquérito é coextensivo ao da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional” (HC 71.039-5, Rel. Min.
Paulo Brossard. 1994).
[35]
O termo "judicialização da política" indica que pode haver algo
errado e que a fronteira entre os Poderes está se borrando, algo que não
deveria acontecer. Para ele, a origem do termo repousa no estranhamento. “A
Constituição de 1988, que propiciou todo um terreno institucional, que promove
essa interação”, explica. Assim, o controle e as decisões caracterizadas como
interferência ou judicialização não ocorrem, na maioria das vezes, por
voluntarismo dos juízes ou porque os políticos têm o poder de recorrer ao
Judiciário – algo muito comum no País, mas porque a própria Constituição
desenhou isso.
[36]
A Constituição Federal (artigo 5º, inciso LXXI) prevê que o mandado de injunção
poderá ser concedido em caso de falta de norma regulamentadora que torne
inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A tese de
repercussão geral fixada foi a seguinte: "I - A Constituição Federal não
prevê adicional noturno aos Militares Estaduais ou Distritais. II - Mandado de
Injunção será cabível para que se apliquem, aos militares estaduais, as normas
que regulamentam o adicional noturno dos servidores públicos civis, desde que o
direito a tal parcela remuneratória esteja expressamente previsto na
Constituição Estadual ou na Lei Orgânica do Distrito Federal". Não é
cabível a concessão de liminar em mandado de injunção, tendo em vista que a Lei
nº 13.300 /2016 não previu esta possibilidade, bem como já reiteradamente
manifestado pelo Supremo Tribunal Federal neste sentido.
[37]
Rui Barbosa ainda introduziu pela primeira vez em uma constituição o instituto
do habeas corpus, que assim dispunha no art. 72, § 22: “Dar-se-ha o habeas-corpus
sempre que alguém soffrer ou se achar em iminente perigo de soffrer violência
por meio de prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção”.
(Redação dada pela Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926).
[38]
Kelsen formula críticas acidas a separação de poderes de Montesquieu. Aquele
defende que o Estado só pode exercer duas funções: a de criar e aplicar o
Direito. De maneira que seria impossível acometer a apenas um órgão a criação
do Direito e a outro a sua aplicação, de modo que toda criação de Direito é
simultaneamente sua aplicação, tal como de sua aplicação resulta também na sua
criação. Continua o estagirita afirmando que não há naquela tese valor essencialmente
democrático, pois fere a sua própria lógica cuja qual preconiza que a
divisão deve ser feita sob o fito de
impedir a concentração de poder, ora, a democracia é o governo do povo, e onde
ela não pode ser exercida diretamente, é
exercida indiretamente, logo o legislativo como referencial personificado
da vontade soberana do povo deveria
ocupar um lugar de sobreposição em relação aos outros poderes, daí que não se pode chegar a outra conclusão senão a de
que nos moldes pensados por Montesquieu a harmonia e independência entre os “Poderes
democraticamente instituídos”, é uma falácia, mero engodo. KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3ª. ed.
São Paulo: Martins Fontes, 1998.
[39]
Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que
propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público
destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual
anteriormente investido. Conforme jurisprudência do STF, o controle de
constitucionalidade de leis anteriores à CF é feito pelo instituto da recepção,
ou seja, verifica-se se a norma pré-CF/1988 foi recepcionada ou não pela ordem
constitucional vigente.
[40] A judicialização da política significa a intervenção decisória do Poder Judiciário capaz de afetar a conjuntura política nas democracias contemporâneas. A consequência imediata dessa intervenção é a ampliação do poder judicial em matérias que seriam reservadas às competências dos Poderes Executivo e Legislativo com inspiração na teoria do checks and balances. A judicialização da política não significa a delegação do Poder Legislativo de sua competência ao
[41]
Norberto Bobbio (1995), em sua obra O Positivismo Jurídico: lições de filosofia do direito, ensina a respeito da
origem da expressão “Positivismo Jurídico”: A expressão “Positivismo Jurídico”
não deriva daquela de “positivismo” em
sentido filosófico, embora no século passado tenha havido uma cerca
ligação entre os dois termos, posto que
alguns positivistas jurídicos eram também
positivistas em sentido filosófico: mas em suas origens (que se
encontram no século XIX) nada tem a ver
com o positivismo filosófico – tanto é verdade
que, enquanto o primeiro surge na Alemanha, o segundo surge na França. A
expressão “Positivismo Jurídico” deriva da locução direito positivo contraposta
à aquela de direito natural.
[42]
Lenio Luiz Streck entende que o Poder
Judiciário não deve continuar na postura passiva diante da sociedade. Antes, tem que assumir a postura de inserção
dos poderes do Estado, ao transcender as funções tradicionais e enfrentar a
missão de concretizar os valores constitucionais, com prejuízo, inclusive, dos
textos legislados. Assim, adere Streck à posição substancialista e
intervencionista contra a postura absenteísta liberal-individual
[43]
O princípio da razoabilidade impõe a coerência do sistema. A falta de
coerência, de racionalidade de qualquer lei, ato administrativo ou decisão
jurisdicional gera vício de legalidade, visto que o Direito é feito por seres e
para seres racionais, para ser aplicado em um determinado espaço e em uma
determinada época. Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a
despeito de suas eventuais diferenças, afiguram-se em princípios fundamentais à
noção de Estado Social e Democrático de Direito. Inúmeros fatores impedem a
efetivação dos ideais democráticos albergados na maioria das cartas
constitucionais dos Estados denominados formalmente democráticos e dos Estados
em transição para a democracia. Dentre eles, exerce papel de relevo a
desatenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Brasil,
muito embora esteja consignado no artigo 1o da Lei Maior tão-só que a
"República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático
de direito", deve primar para ser um Estado Social Democrático de Direito,
em virtude do que dispõem, entre outras, as normas contidas nos artigos: 1º, III,
3º, I, III, e IV, 5º, LV, LXIX,LXXII, LXXIV, LXXVI; 6º, 7º, I, II, III, IV, VI,
X, XI, XII; 23; 170, II, III, VII e VIII. O Estado Social é aquele que, além
dos direitos individuais, salvaguarda os direitos sociais, sendo obrigado a
ações positivas para realizar o desenvolvimento e a justiça social, como
assinala Carlos Ari Sundfeld. A razoabilidade e a proporcionalidade são
princípios fundamentais à concreção do Estado de Direito ou do Estado Social e
Democrático de Direito, entendido este como aprimoramento daquele e não como
categoria distinta.
[44]
Os direitos sociais são aqueles que visam resguardar direitos mínimos à
sociedade e têm como objetivo mitigar as vulnerabilidades sociais ocasionadas
pelos modos de produção capitalista. No Brasil, estão previstos pelo artigo 6º
da Constituição Federal de 1988. Os direitos sociais podem ser agrupados em
grandes categoriais: a) os direitos sociais dos trabalhadores, por sua vez
subdivididos em individuais e coletivos; b) os direitos sociais de seguridade
social; c) os direitos sociais de natureza econômica; d) os direitos sociais da
cultura; e) os de segurança.
[45]
Já na América, a separação de poderes ocorre de forma diversa daquela vista na
Europa. As diferenças principais podem ser explicadas por basicamente dois fatores
preponderantes. Primeiramente, as razões que motivaram a Revolução Francesa e
aquelas que resultaram na independência das colônias inglesas na América do
Norte foram distintas, em que pesem as raízes iluministas de ambas. E em
segundo lugar, o sistema jurisdicional baseado em precedentes judiciais (stare
decisis) típico do modelo de common law, adotado pelos anglo-americanos, em
oposição ao sistema de civil law vigente em quase toda Europa continental, foi
responsável em grande medida pelo desenvolvimento do controle de
constitucionalidade.